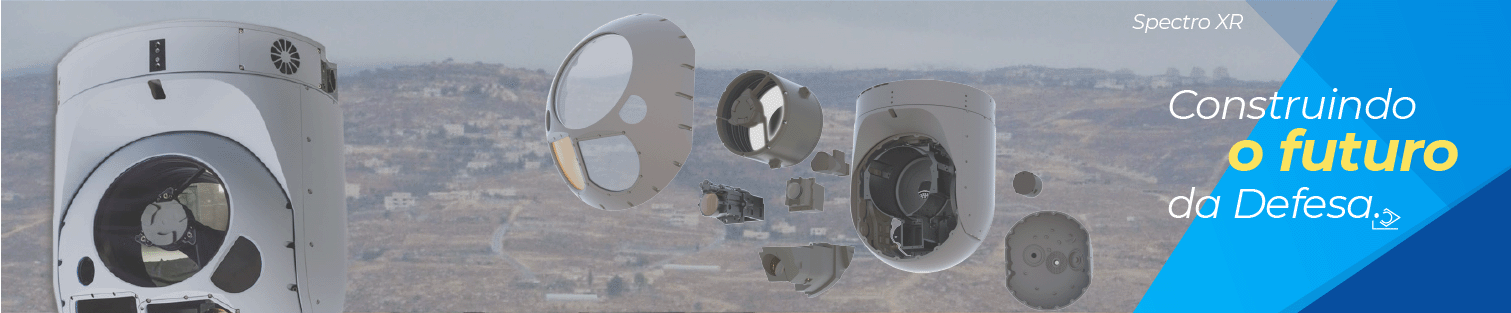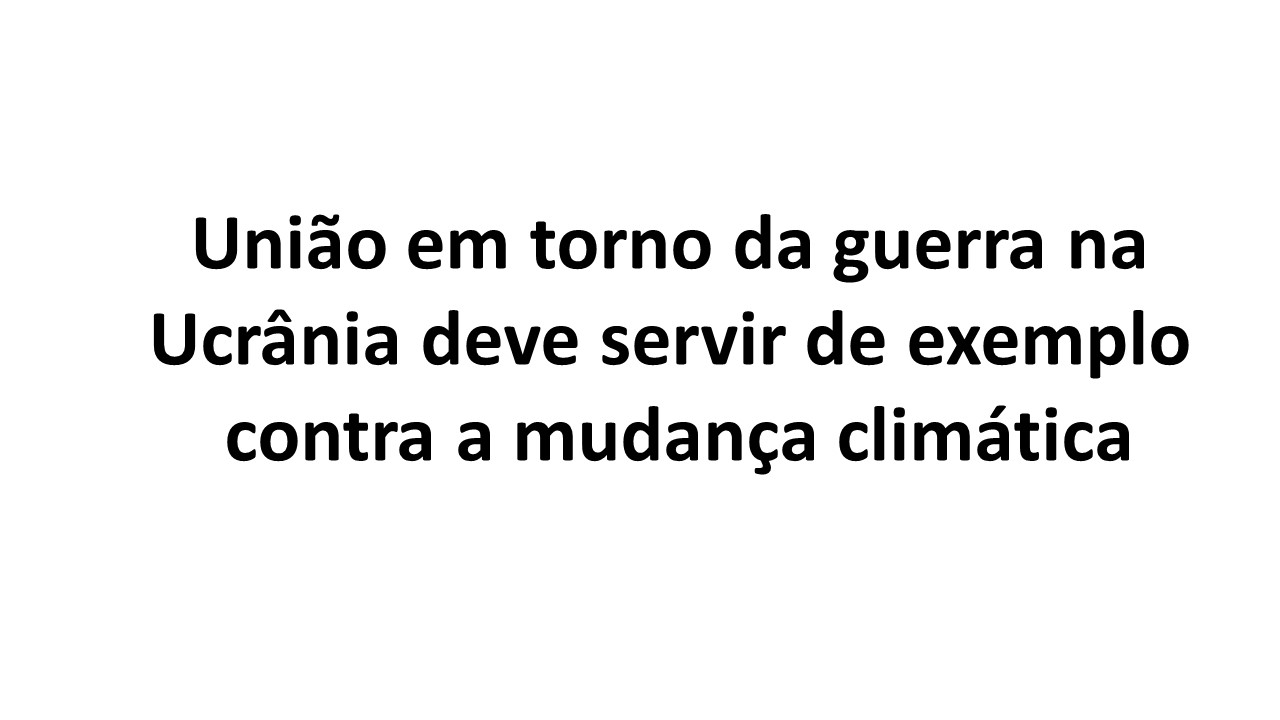A OTAN de Jens Stoltenberg e a Amazônia
Lorenzo Carrasco e Geraldo Lino
Resenha Estratégica – MSIa
“A crise climática de que o planeta padece é tão ou mais ameaçadora que Vladimir Putin. A invasão é um crime inaceitável, que não pode ser ignorado, e é preciso apoiar aqueles que enfrentam o tirano russo. Mas o mundo deve desenvolver capacidade para responder a mais de uma crise por vez. A Ucrânia não deve ser abandonada, mas a luta contra o aquecimento global também não. Esta última é muito difícil, mas agora sabemos que, agindo em conjunto, o mundo pode alcançar coisas difíceis. Os líderes das democracias do mundo mostraram que, frente a uma ameaça existencial, as políticas as podem mudar decisiva e rapidamente. É hora de usarem com valentia o superpoder que a crise na Ucrânia lhes ajudou a descobrir para atacar a outra grande crise que a humanidade enfrenta.”
A proposta, das mais insidiosas, é do economista venezuelano Moisés Naím, pesquisador da Fundação Carnegie para a Paz Internacional (Carnegie Endowment for International Peace) de Washington, feita em sua última coluna reproduzida em jornais de vários países, inclusive o brasileiro O Estado de S. Paulo de 7 de março (“União em torno da guerra na Ucrânia deve servir de exemplo contra a mudança climática”).
Nela, Naím volta a ventilar uma ideia que circula há tempos nos altos escalões estratégicos da estrutura de poder hegemônico centrada nos EUA e na Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN): a inclusão de grandes temas ambientais, a exemplo das mudanças climáticas e da “proteção” do bioma Amazônia, em questões de segurança internacional, inclusive, com os correspondentes desdobramentos militares.
Recorde-se que, em 2020, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, defendeu explicitamente que a organização deve preparar-se para “combater as mudanças climáticas”. Em um artigo publicado em vários jornais europeus (disponível em inglês no sítio da organização), ele propôs:
(…) As mudanças climáticas ameaçam a nossa segurança. Então, a OTAN deve fazer mais para entender plenamente e integrar as mudanças climáticas em todos os aspectos do nosso trabalho, desde o nosso planejamento militar até à maneira como exercitamos e treinamos as nossas forças armadas. (…) A OTAN também deve estar preparada para reagir a desastres relacionados ao clima, assim como fizemos durante a crise da Covid-19. (…)
As mudanças climáticas estão tornando o mundo mais perigoso. A tarefa da OTAN é preservar a paz e manter-nos seguros. Então, para cumprir a nossa principal responsabilidade, a OTAN deve ajudar a limitar as mudanças climáticas, para a nossa segurança atual e para a segurança das futuras gerações.
A adesão à agenda “verde” é um desdobramento do dilema existencial da Aliança Atlântica no mundo pós-1991, quando a implosão da União Soviética e a extinção do Pacto de Varsóvia lhe retiraram a justificativa oficial para a sua existência. Desde então, a OTAN foi convertida em uma “gendarmeria global” com uma agenda estreitamente alinhada aos interesses de Washington, incorporando às suas operações militares (com frequência, à revelia do Conselho de Segurança das Nações Unidas), ações humanitárias, combate ao terrorismo, narcotráfico e pirataria, “ameaças” antidemocráticas e problemas ambientais.
Como observou oportunamente o então ministro da Defesa Nelson Jobim, em um seminário promovido pelo Instituto de Defesa Nacional de Portugal, em Lisboa, em 2010, o seu novo campo de operações passou a ser praticamente o mundo inteiro.
A rigor, as preocupações “verdes” da OTAN não constituem novidade, pois a organização teve um papel ativo na instrumentalização dos temas ambientais na pauta hegemônica, que remonta à década de 1960. Em maio de 1967, em Deauville, França, a Aliança promoveu a Conferência sobre Desequilíbrio e Colaboração Tecnológica Transatlântica, com a presença de alguns dos mentores da agenda ambientalista, entre eles o industrial italiano Aurelio Peccei, então presidente do Instituto Atlântico, o principal think-tank da OTAN, e Zbigniew Brzezisnki, do Conselho de Planejamento Político do Departamento de Estado dos EUA. No ano seguinte, Peccei seria um dos fundadores do Clube de Roma, uma das principais agências promotoras do malthusianismo/ambientalismo sob o disfarce dos “limites do crescimento”. Brzezinski viria a tornar-se um dos principais estrategistas de política externa dos EUA.
As principais conclusões da conferência foram:
1) O progresso científico, definido pelo domínio sucessivo do homem sobre as leis universais, deveria ceder lugar a uma visão do homem reduzido a uma parte da natureza, cujas leis seriam imutáveis e incognoscíveis.
2) Os sistemas de governo baseados nos paradigmas industriais então predominantes não mais funcionariam na “nova era” pós-industrial em gestação. Os Estados nacionais se desagregariam, na medida em que o homem criasse novas maneiras mais “empáticas” de se relacionar com os seus semelhantes.
3) A promoção da contracultura do rock, drogas e “libertação sexual”, em um período pouco superior a uma geração, a transformaria na cultura global dominante, o que significaria o fim da civilização ocidental judaico-cristã.
Em 1968, Brzezinski lançou o livro The Technetronic Age (no Brasil, América: laboratório do mundo), no qual argumentava que essa “nova era” lançaria as bases para uma ditadura benevolente por parte de uma elite “globalizada”. Sobre o nascente movimento ambientalista, escreveu:
A preocupação com a ideologia está cedendo vez à preocupação com a ecologia. Seus começos podem ser divisados na preocupação popular sem precedentes com assuntos como a poluição do ar, a fome, a superpopulação, a radiação e o controle de doenças, drogas e atmosfera… Existe já difundido o consenso de que é desejável o planejamento funcional como o único meio de enfrentar as diversas ameaças ecológicas.
Os desdobramentos de tais propostas, nas décadas seguintes, representam um caso padrão de profecia autocumprida.
Voltando à atualidade, não é casual que a menção de Stoltenberg à “segurança das futuras gerações” nos recorde o celebrado conceito de “desenvolvimento sustentável”. O seu primeiro cargo público foi o de ministro do Meio Ambiente da Noruega, entre 1990 e 1991, na terceira gestão da primeira-ministra Gro-Harlem Brundtland, ex-coordenadora da Comissão Brundtland das Nações Unidas, cujo relatório Nosso futuro comum, de 1987, lançou o conceito e as diretrizes da agenda ambiental global para as décadas seguintes. Posteriormente, teve dois mandatos como primeiro-ministro, em 2000-2001 e 2005-2013.
Durante este último, em 2008, participou ativamente da articulação do Fundo Amazônia, ao qual o governo norueguês doou a quase totalidade dos R$ 2,88 bilhões destinados a financiar a fundo perdido iniciativas ambientais no bioma Amazônia (os outros contribuintes foram o governo da Alemanha e a Petrobras), selecionadas por um conselho integrado por representantes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) e de ONGs do aparato ambientalista-indigenista que opera no Brasil. O Fundo funcionou entre 2009 e 2019, quando os governos da Noruega e Alemanha suspenderam os repasses, por discordarem das mudanças determinadas pelo governo brasileiro na gestão dos repasses.
No artigo de 2020, Stoltenberg observa que a Aliança Atlântica não deveria atuar apenas passivamente em relação à questão climática, mas também “estar preparada para reagir a desastres relacionados ao clima, assim como fizemos durante a crise da Covid-19”.
Embora Stoltenberg não tenha feito qualquer menção ao Brasil (ou a algum país em particular), não é difícil se discernir que o País ocupa lugar de destaque na pauta da “segurança ambiental” global, na visão de certos estrategistas euroatlânticos. Algumas semanas após o seu artigo, um até então pouco conhecido Conselho Militar Internacional sobre Clima e Segurança (IMCCS, sigla em inglês), divulgou um relatório de 47 páginas intitulado “Clima e Segurança no Brasil”, advertindo que o desmatamento da Amazônia seria uma ameaça à segurança brasileira.( Relatório Acessível em DefesaNet )
Fundado em 2019, em seu sítio (https://imccs.org/), o IMCCS se apresenta como “um grupo de líderes militares seniores, especialistas em segurança e instituições de segurança de todo o mundo, dedicados a antecipar, analisar e enfrentar os riscos de segurança de um clima em mudança”.
De forma significativa, a maioria dos seus dirigentes provém de países membros da OTAN.
O “recado” principal do documento foi:
As decisões de ação climática tomadas nos próximos anos determinarão se os impactos climáticos das próximas décadas serão mais administráveis ou potencialmente catastróficos. Dada a importância da Amazônia para o sistema climático global, é do interesse estratégico e de segurança do Brasil retornar à sua política de liderança mundial de combate ao desmatamento. (…)
Com sua segurança e interesses nacionais em jogo, é vital que o governo brasileiro retorne a uma estratégia de longo prazo para conter o desmatamento. As críticas internacionais à postura do Brasil em relação à proteção florestal podem muito bem se intensificar, caso o Brasil não volte a uma trajetória que cumpra seus compromissos com o NDC [sigla em inglês de Contribuição Nacionalmente Determinada – n.e.]. A comunidade internacional também pode exercer pressão sobre o Brasil nesses assuntos, aumentando as consequências diplomáticas e comerciais da inação. Diante disso, também é do interesse do Brasil se engajar positivamente com os organismos nacionais e multilaterais que têm parceria com o Brasil nos esforços de preservação florestal; esses acordos forneceram centenas de milhões de dólares para uma série de esforços de preservação e serão necessários para sustentar uma campanha de contra-desmatamento de longo prazo.
O relatório do IMCCS foi um evidente complemento “militar” à campanha “civil” do aparato ambientalista-indigenista internacional contra o Brasil, em resposta às ações do governo do presidente Jair Bolsonaro para preencher o déficit de soberania do Estado sobre a Região Amazônica (como o definiu o ex-comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas), após décadas de influência pouco contestada do aparato na formulação das políticas ambientais nacionais. A novidade foi a presença de uma “ONG militar” na mesma trincheira com as ONGs ambientalistas-indigenistas e os fundos de ativos e de investimentos internacionais, que têm pressionado fortemente o País, para voltar enquadrá-lo plenamente na agenda “verde-indígena”.
Em todo esse contexto, é da maior relevância ressaltar o veto da Federação Russa, em dezembro último, a uma resolução proposta pela Irlanda e pelo Níger, com apoio dos EUA, Reino Unido e França, propondo que as questões climáticas fossem integradas à agenda da segurança internacional. Em sua recente visita a Moscou, Bolsonaro ressaltou a relevância do fato para o Brasil.
Não se está aqui sugerindo que a OTAN representar uma futura ameaça militar direta para a Amazônia. De fato, a região já vem experimentando uma intensa ofensiva de guerra híbrida desde o final da década de 1980, sob a ação de um exército irregular de organizações não-governamentais (ONGs), a grande maioria de países membros da OTAN, criando autênticas “zonas de exclusão econômica” e de soberania limitada na região mais carente de desenvolvimento do País.
Desafortunadamente, empresas e instituições que deveriam funcionar como sustentáculos da ação nacional na Amazônia, em iniciativas e projetos produtivos verdadeiramente capazes de levar a região a um patamar superior de desenvolvimento socioeconômico, têm contribuído para financiar tais forças irregulares de ocupação – casos da Petrobras, Vale, BNDES e outras, que têm aportado polpudas doações a ONGs engajadas nessa campanha antinacional. Em realidade, em vez da “desintrusão”, termo pejorativo usado por aqueles combatentes irregulares para qualificar os residentes de terras reivindicadas para povos indígenas, o que se necessita é de uma “desonganização” da Amazônia.
Matérias Relacionadas