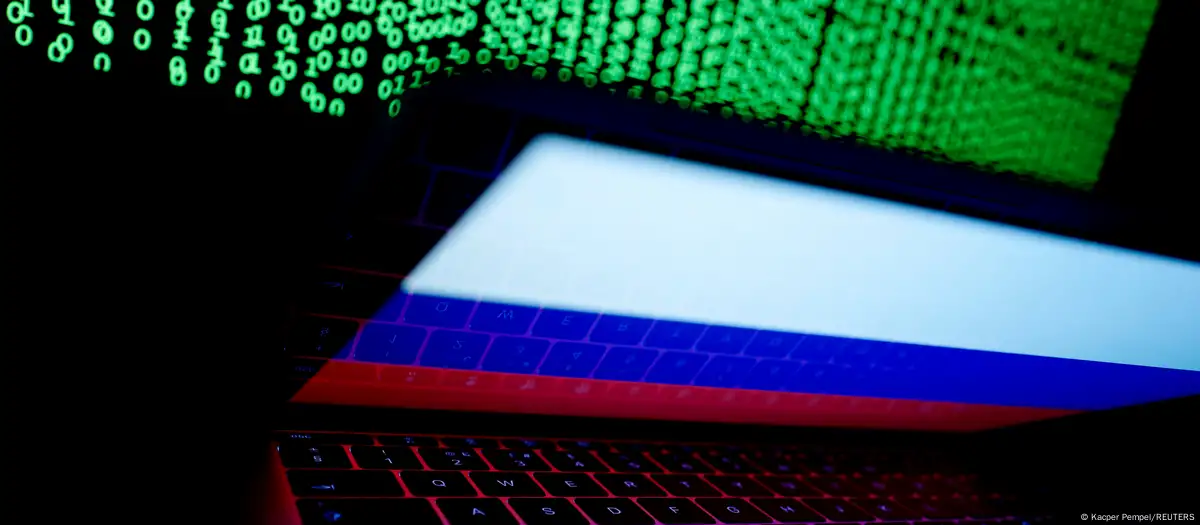Por Carolina Jardim
RIO — Pivô das negociações que levaram à Declaração de Teerã em 2010 — mediada por Brasil e Turquia —, o ex-ministro das Relações Exteriores e da Defesa Celso Amorim avalia que o mundo perdeu tempo ao alcançar um acordo nuclear com o Irã somente cinco anos depois. Em entrevista ao GLOBO, o ex-chanceler, que veio ao Rio para um ciclo de palestras na FGV, considerou que o pacto selado entre Teerã e as potências mundiais em 14 de julho partiu de condições piores e mais complexas. Se tivesse sido assinado antes, segundo ele, teria evitado uma sensação de insegurança e temor de guerra que imperavam na época.
Como o senhor avalia o acordo nuclear alcançado entre o Irã e as potências mundiais? Há algum ponto frágil?
Todo acordo na área de desarmamento, aliás, qualquer acordo, é muito sensível. Tem que se basear na confiança inicial entre os negociadores, na fiscalização e na presunção de que o outro vai cumprir a sua parte. Não conheço os detalhes do acordo, mas o que pude ler, através da análise de terceiros, é que as medidas de fiscalização são eficazes, podem ser eficazes. Por outro lado, o Irã também confia que os Estados Unidos e os países europeus vão de fato levantar as sanções. O acordo atual é uma barganha. O nosso era uma declaração unilateral para criar confiança, na qual o Irã se comprometia a fazer coisas desejadas principalmente pelo Ocidente, embora Rússia e China também participassem. Ao criar confiança, se fosse uma corrida de dois mil metros, o Irã já teria corrido os primeiros 500. Então já ficava muito mais fácil.
Se o pacto mediado pelo Itamaraty tivesse vingado, teria sido tão abrangente como o de agora e seria satisfatório para todas as partes?
São duas coisas diferentes, mas dois pontos pondem ser considerados: a perda de tempo e o fato de o acordo atual partir de uma situação pior. A Declaração de Teerã era uma porta de entrada para se discutir um acordo mais amplo. Acho que teria poupado o mundo muito tempo de insegurança e muito tempo em que o temor de guerra e de ataque era real. Teria começado muito antes, partido de uma base melhor dependendo de como o acordo fosse negociado e ganharíamos tempo. A quantidade de urânio seria muito menor, portanto o problema seria muito menos complexo do ponto de vista técnico. Não é que não possa ser resolvido. Ele pode ser resolvido e vai ser resolvido na minha opinião. Mas é mais complexo e está mais sujeito a problemas.
A produção de urânio aumentou muito de lá pra cá?
Na época, o Irã tinha cerca de 1.000 Kg de urânio enriquecido — não há certeza de quanto eles tinham exatamente. Depois, o país produziu mais urânio levemente enriquecido. Hoje são 10.000 Kg. É mais difícil de fiscalizar.
As tensões na região já teriam sido atenuadas com a Declaração de Teerã?
Teria permitido conversa e criado confiança necessária para um entendimento com o Irã. Por outro lado, talvez teria permitido uma cooperação na região e dificultado o surgimento de movimentos terroristas como o Estado Islâmico. Mas não posso ter certeza, é muito difícil refazer a História. Não estava pensando nisso naquela época. Não tinha ocorrido nem a Primavera Árabe.
Quais foram as garantias de fiscalização internacional negociadas com o Irã na época?
Eram simplíssimas. O urânio seria levado para a Turquia. Era só fiscalizar a ida, uma vez. Se o Irã não fizesse isso, não iria receber o que estava necessitando para o seu reator de pesquisa que produz isótopos medicinais. Lugar, tempo e quantidade eram conhecidos. Não havia complexidade. Claro que para fazer um acordo abrangente, teria que continuar as negociações. Nunca tivemos dúvidas disso. Nunca achamos que a Declaração de Teerã era um passo definitivo.
O que mudou nos últimos cinco anos para que o acordo fosse alcançado agora?
Mudou o processo político nos Estados Unidos, o fato de que agora Obama não é mais candidato, então tem mais liberdade. Houve uma mudança no Irã. A saída de (Mahmoud) Ahmadinejad e a entrada de (Hassan) Rouhani influenciou a percepção ocidental sobre o Irã. Também não sei se na época incomodou alguns países o fato de Brasil e Turquia, que não são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, terem conseguido algo que eles não conseguiram.
Imediatamente após a assinatura do acordo, vários países europeus enviaram delegações a Teerã pensando em oportunidades futuras. Já há um movimento do Brasil nesse sentido?
Não posso falar porque não estou no governo, mas acho que o Brasil não deveria perder tempo. É claro que lá atrás estávamos em uma posição privilegiadíssima, porque éramos um dos poucos países, como a Turquia, que são países grandes, de influência regional e global, que tinha relação fluida com o Irã. Agora estamos concorrendo. O Brasil produz muita coisa que o Irã precisa. Não tenho nada contra vender frango, carne, acho muito bom. Mas espero que possamos atuar em domínios mais avançados.
Relatório divulgado pelo centro de estudos International Crisis Group alerta para uma crise humanitária na Venezuela. Quais são os riscos aos países vizinhos de um eventual colapso do país?
Prefiro não achar que vai haver colapso. A Venezuela já enfrentou crises difíceis, não quero dizer se essa é mais ou menos difícil do que as outras. Acho que o Brasil, assim como os países da Unasul, podem atuar positivamente. É uma pena que o Centro Carter tenha saído da Venezuela, porque atua sempre com muita isenção e ajuda a dar legitimidade. Na época que o Brasil criou o Grupo de Países Amigos da Venezuela, em 2003, colaboramos muito com o Centro Carter. Agora vai ter eleições legislativas. Acho que a observação internacional por órgãos idôneos, que não tenham se revelado parciais ou contrários antes, contribui para acalmar.