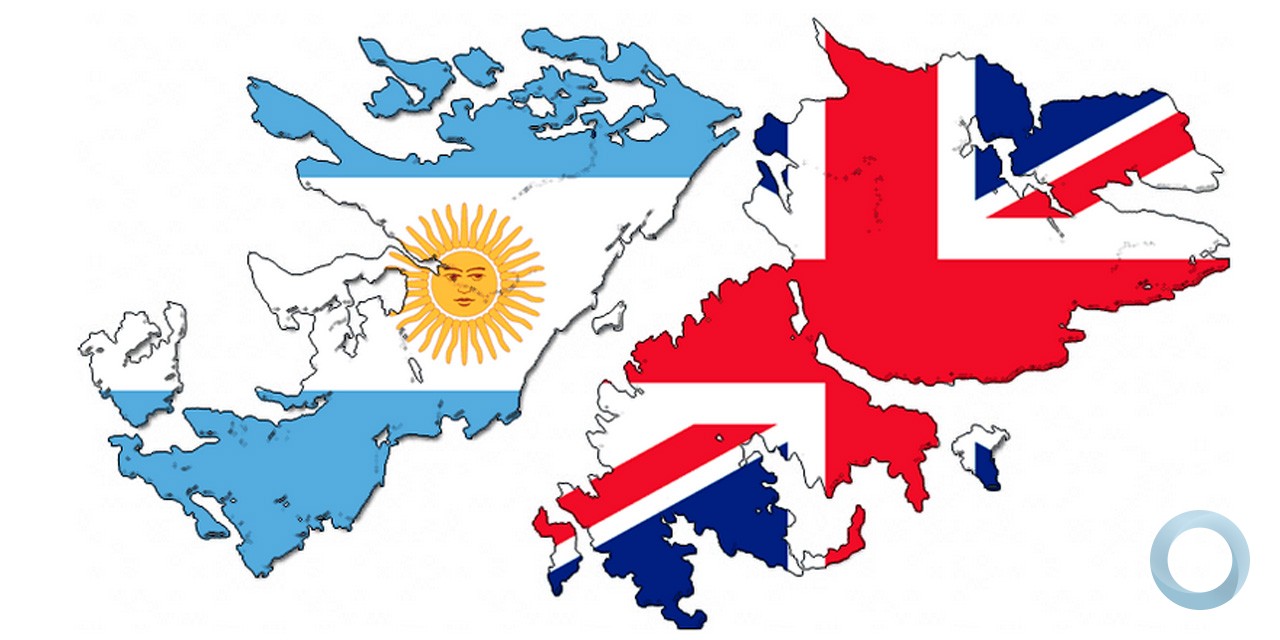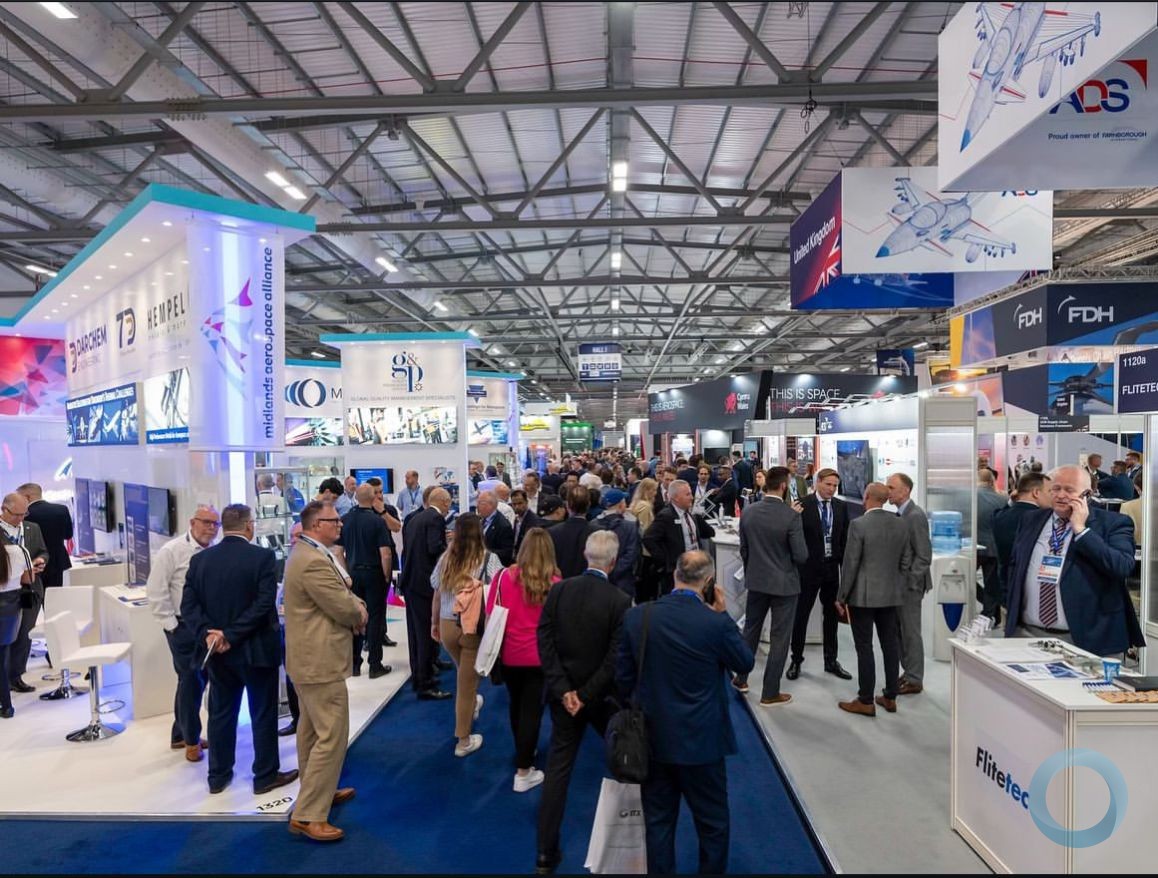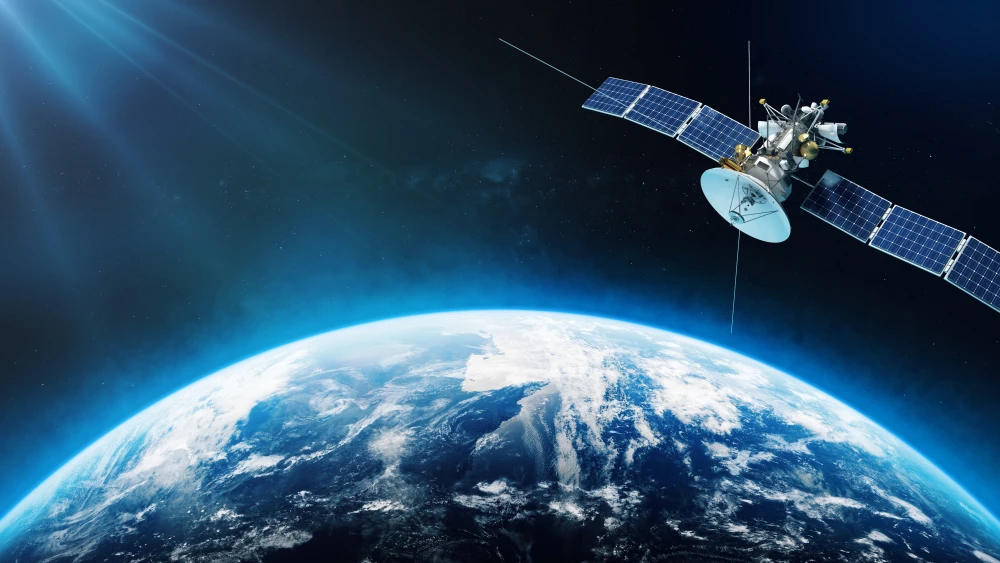Anne Orford
A adoção da linguagem de "responsabilidade de proteger" transforma a intervenção (seja ela militar ou de outro tipo) em uma norma. De acordo com o secretário-geral da ONU, Ban Ki-Moon, enquanto o conceito de responsabilidade de proteger amadureceu em 2011, o desafio da comunidade internacional permanece o de transformar esse conceito de "promessa à prática" ou de "palavras a ações". Eu sugiro que o significado do conceito de responsabilidade de proteger recai na sua capacidade de fazer o contrário – ou seja, transformar prática em promessas, ou ações em palavras. Mais especificamente, esse conceito fornece uma base para racionalizar e consolidar práticas internacionais como comissões de inquérito, operações de paz, formas estratégicas de assistência técnica e administração civil, muitas das quais são empregadas há décadas. A importância do conceito está, portanto, na justificativa que ele fornece para essas práticas e para a autoridade dos atores que as realizam.
No livro "International authority and the responsibility to protect" (2011), argumento que pensar sobre intervenção usando a linguagem da proteção muda o foco legal de quatro modos centrais.
Em primeiro lugar, o conceito de responsabilidade de proteger sugere sua importância normativa, não porque ele impõe novas obrigações sobre os Estados, mas porque confere poderes de natureza pública ou oficial e determina sua jurisdição. Em "O conceito de Direito", H. L. A. Hart distingue entre "leis que conferem poderes" e "leis que impõem obrigações". Analistas tendem a tratar a inclusão do conceito de responsabilidade de proteger na Cúpula Mundial de 2005 como uma tentativa fracassada de fazer o último. De fato, parece claro que esse conceito foi cuidadosamente formulado de forma a não impor sobre os Estados ou atores internacionais novas obrigações em situações específicas. O conceito deve ser entendido como normativo no primeiro sentido, de prover autorização legal para certas atividades. A Cúpula Mundial confere à comunidade internacional, atuando por meio da ONU, um mandato discricionário para empreender ações em situações nas quais populações precisam de proteção. O secretário-geral ressaltou esse caráter discricionário em seu quarto relatório sobre a responsabilidade de proteger, em julho de 2012.
Em segundo lugar, pensar nesse conceito como uma forma de lei que distribui poder discricionário a um executivo internacional levanta questões sobre o exercício dessa liberdade de ação. Até hoje, o mandato discricionário para uma ação executiva com o objetivo de proteger civis tem sido exercido de forma seletiva. Parece quase banal afirmar que é improvável que esse conceito seja alguma vez invocado para autorizar medidas contra um grande aliado do Ocidente, um Estado da Europa Ocidental ou os Estados Unidos. Apesar disso, a preocupação com a seletividade foi tema recorrente nos debates no Conselho de Segurança em relação à intervenção na Líbia e, mais amplamente, em discussões temáticas sobre proteção civil desde maio de 2011. Advogados de sistemas legais domésticos há muito tempo debatem sobre como limitar os amplos poderes discricionários dos braços executivos dos governos. No caso mais extremo, uma ordem política que sistematicamente faz diferença entre seus sujeitos na aplicação e na coerção das leis pode não mais ser reconhecida como sistema jurídico, e seus representantes não mais capazes de impor fidelidade ou obediência.
Em terceiro lugar, justificar autoridade com base na capacidade de proteger levanta uma nova questão: quem decide? Quem decide o que significa proteção em determinado lugar e momento e quem é capaz de provê-la? A questão de quem decide tem registros na lei em dois debates sobre o conceito de responsabilidade de proteger – sobre jurisdição e sobre reconhecimento. Em termos de jurisdição, foi essencial tanto para Estados que viveram – ou podem esperar serem alvos de – intervenções ocidentais, incluindo os membros do Movimento dos Não Alinhados, além da China, que esse amplo mandato discricionário tenha sido dado à comunidade internacional atuando por meio da ONU, e, no caso do uso da força, por meio do Conselho de Segurança.
A questão de quem decide o que significa proteção também envolve decisões sobre reconhecimento. Por exemplo, na 66ª sessão da Assembleia Geral em 2011, a ONU foi chamada a uma decisão intimamente ligada com a questão do reconhecimento e da responsabilidade, quando decidiu estabelecer o Conselho de Transição Nacional como representante da Líbia na ONU. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral e a União Africana, assim como muitos Estados, expressaram sua preocupação com o processo pelo qual a decisão foi tomada. Não tendemos a pensar sobre essas decisões como normativas. No entanto, se a responsabilidade de proteger deve ser considerada uma reivindicação normativa sob a comunidade internacional, a decisão de reconhecer um governo ou um Estado também pode ser racionalizada nesses termos.
Finalmente, sustentar autoridade na capacidade de proteger historicamente tende a privilegiar instituições que favorecem coerência, controle e centralização. Nesse sentido, a autoridade justificada em termos de sua capacidade de garantir proteção significou uma tendência ao autoritarismo.
Pode parecer extremo sugerir que poderia haver alguma ligação entre o aumento de Estados autoritários e as ambições benignas do conceito de responsabilidade de proteger. Porém, enquanto muita atenção vem sendo dada à construção da capacidade internacional de responder aos desafios da proteção pelo desenvolvimento de formas mais eficientes e integradas de vigilância e policiamento, há muito menos discussão sobre os limites legais da ação internacional feita para garantir proteção. Estamos começando a ver a emergência de um debate sobre a necessidade de impor limites ao poder de atores internacionais, como no caso dos fortes argumentos levantados pelos BRICs desde maio de 2011, em resposta à percepção de que a OTAN excedeu seu mandato de proteger civis na Líbia, tanto ao bombardear as forças de Kaddafi quanto ao armar os rebeldes.
De particular interesse é a posição adotada pelo Brasil ao iniciar uma discussão institucional sobre os limites apropriados aos poderes de polícia internacional. O país começou a manifestar preocupação sobre a intervenção na Líbia em maio de 2011, no debate temático sobre proteção civil no Conselho de Segurança. Ali ele lançou as bases dos princípios que, em novembro de 2011, foram denominados "responsabilidade ao proteger", com base no que descreveu como "a transformação do cenário de proteção civil nos últimos meses". O Brasil abordou quatro questões recorrentes nas respostas à intervenção na Líbia: mudança do regime; priorização de meios pacíficos e preventivos sobre a militarização; limites ao uso da força; e imparcialidade.
Inicialmente, a resposta do secretário-geral ao conceito do Brasil foi a de que, apesar de "todos concordarmos sobre a necessidade de responsabilidade ao proteger, não devemos fazer o ótimo o inimigo do bom". (A ideia de que aqueles que estão do lado do bem não devam ser contidos é sempre motivo de preocupação). Em 25 julho de 2012, o secretário-geral divulgou o quarto de seus relatórios sobre a responsabilidade de proteger, com o tema "Resposta rápida e decisiva". O relatório adota a concepção de responsabilidade ao proteger, vinculando-a à necessidade de assegurar que "alerta e avaliação precoces sejam conduzidos de forma justa, prudente e profissional, sem interferência política ou padrões duplos". O relatório aponta para as preocupações dos Estados membros de que aqueles encarregados da implementação da resolução 1973 do Conselho de Segurança excederam seu mandato, e, apesar de não comentar sobre os méritos específicos desses argumentos, declara que é necessário que "as preocupações expressas pelos Estados membros sejam levadas em conta no futuro".