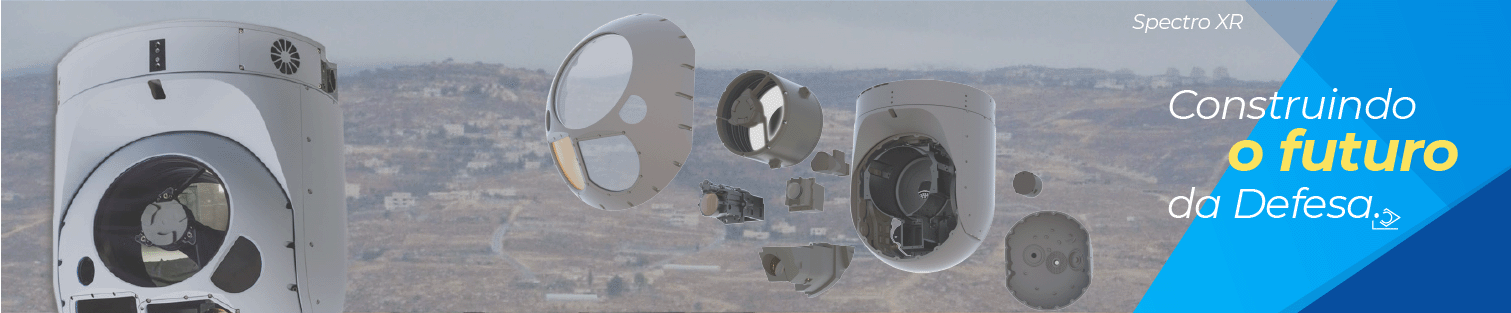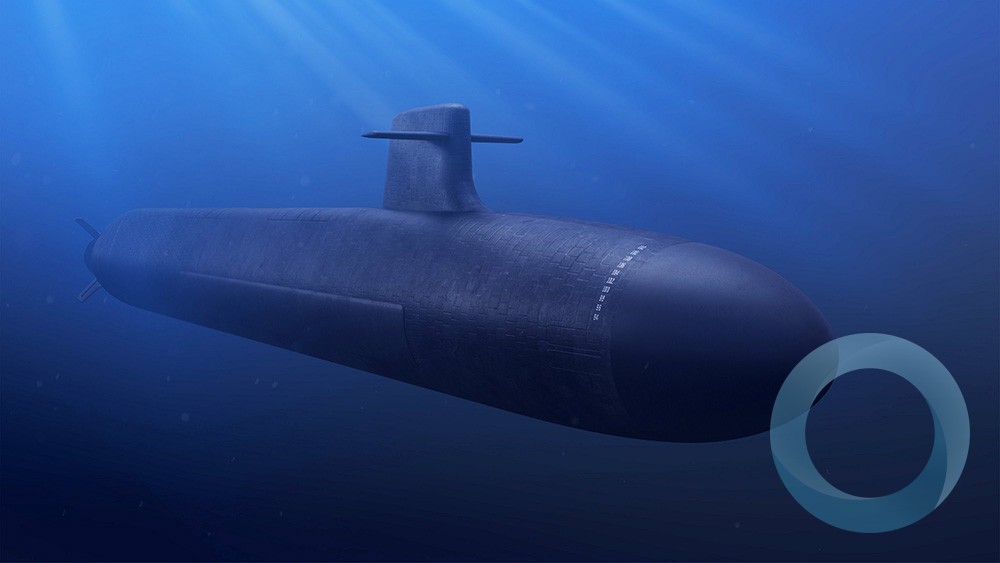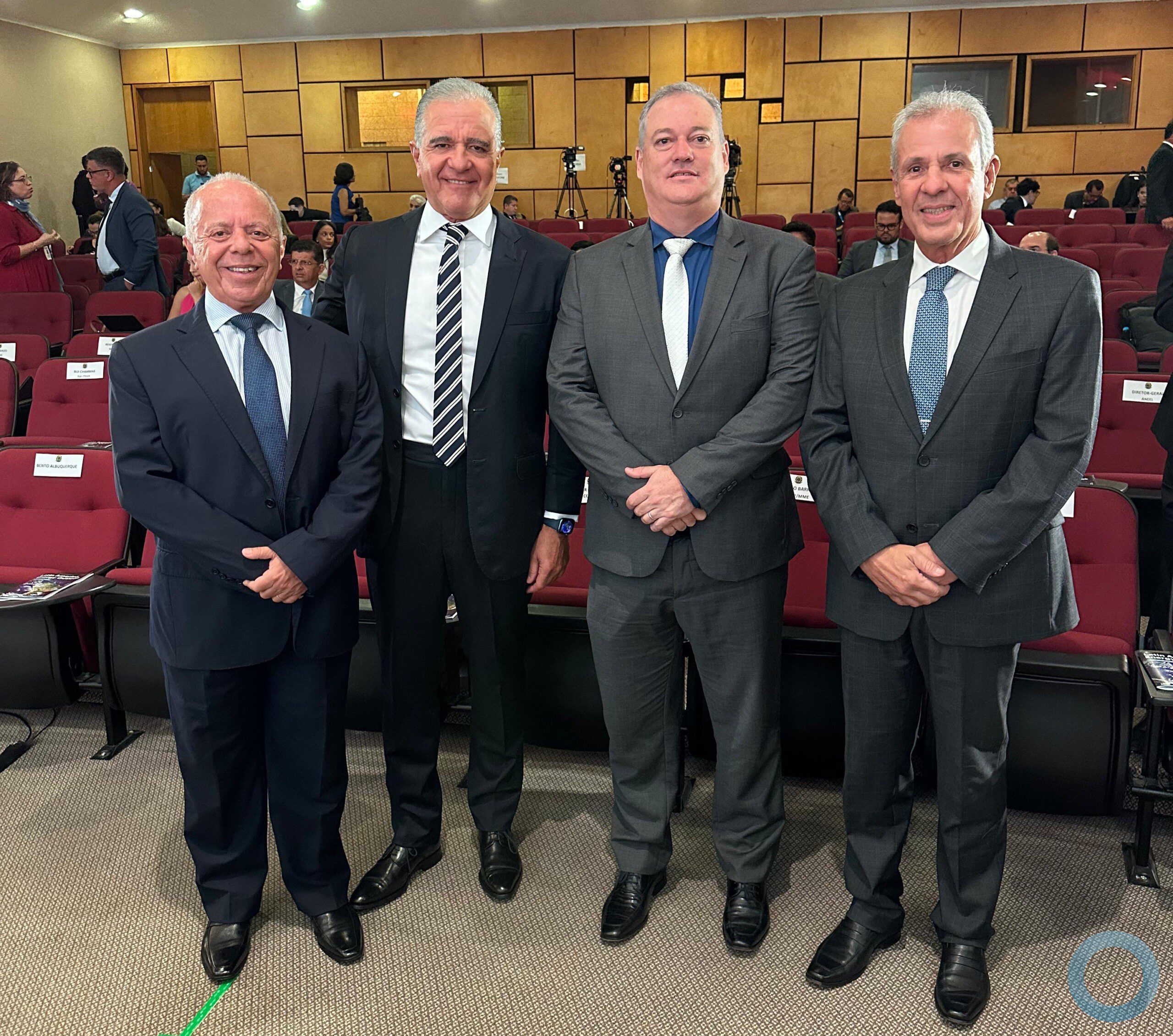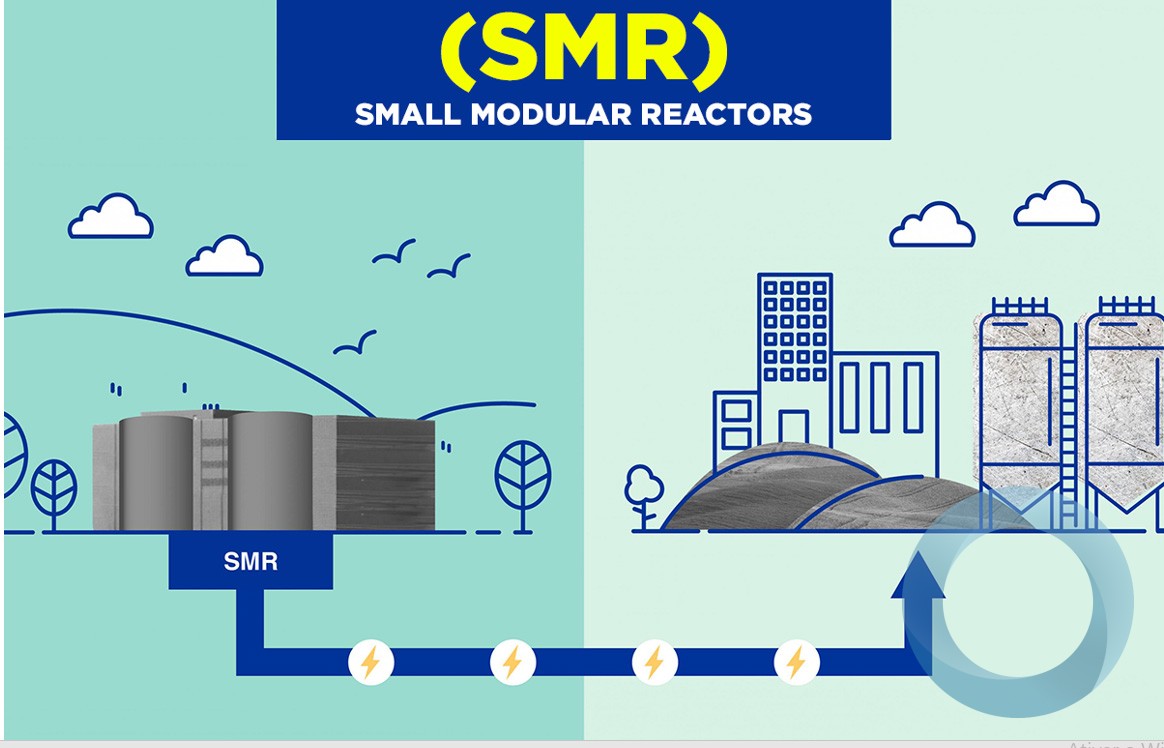SERGIO DUARTE
Embaixador, ex-Alto Representante das
Nações Unidas para Assuntos de Desarmamento.
Presidente das Conferências Pugwash sobre
Ciência e Assuntos Mundiais.
- Within, at the most, ten years, some of those
[nuclear] bombs are going off. I am saying this
as responsibly as I can. That is the certainty.
C. P. Snow, 1960
Tabu nuclear e normas internacionais
Até hoje a trágica profecia do físico e romancista inglês Charles Percy Snow na epígrafe deste artigo não se realizou, para surpresa de outros pensadores. Em 2002, Thomas C. Schelling, mais conhecido como economista mas também destacado professor de relações internacionais, segurança e estratégia nuclear, escreveu: “Há cinquenta anos atrás, quem poderia imaginar que chegaríamos a um novo século – um novo milênio – sem que nenhuma arma nuclear tivesse sido disparada em conflito? Ocorreu algo realmente inesperado, ou melhor, algo esperado por muitos na verdade não aconteceu.”
Parece claro que isso se deve ao menos em parte à crescente aversão à ideia de que armas nucleares possam vir a ser usadas em ações militares ofensivas ou mesmo como instrumento de coerção para a afirmação de interesses nacionais. As doutrinas oficiais dos países possuidores procuram caracterizar esse armamento como destinado a dissuadir agressões, atribuindo-lhe um papel defensivo em circunstâncias extremas, isto é, aquelas em que a própria existência do estado se encontre em perigo, mas não deixam de manter viva a ameaça de seu uso.
A divulgação das consequências humanas e ambientais de qualquer uso de armas nucleares, amplamente estudadas e documentadas ao longo das últimas décadas, alimenta o sentimento de repúdio que tem sido caracterizado por muitos autores como um “tabu”, isto é, uma regra moral não escrita, contra o uso e a própria existência das armas nucleares. Mais recentemente, a comunidade internacional vem promovendo com sucesso a negociação e adoção de normas jurídicas que visam a proibição completa dessas armas.
Desde o final da Segunda Guerra Mundial desenvolveu-se a ideia de evitar o primeiro uso de armas nucleares, o que em tese inviabilizaria uma resposta com os mesmos meios. Dentre os nove países hoje possuidores de tais armas, porém, somente a China estabelece em sua doutrina militar a interdição voluntária do primeiro uso, embora reservando-se o direito de retaliação a um ataque nuclear. Os demais estados possuidores não adotaram limitação similar.
A crescente consciência dos graves perigos da existência e possível uso de armas atômicas tem estimulado esforços multilaterais para deslegitimá-las aos olhos da opinião pública mundial. Por outro lado, a retórica dos possuidores e seus aliados busca valorizar seu potencial dissuasório, minimizando os efeitos catastróficos do emprego em ações armadas.
A repulsa decorrente dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki gerou consenso nas Nações Unidas, em 1945, para a constituição de uma comissão de membros do Conselho de Segurança, mais o Canadá, para elaborar propostas de eliminação das armas nucleares. Esse esforço não teve êxito devido à rivalidade e animosidade entre as duas principais potências, mas proporcionou a adoção de medidas parciais, principalmente no campo da não proliferação.
A partir dos anos 1950 a comunidade internacional elaborou diversos importantes instrumentos destinados a impedir a obtenção de armamento nuclear pelos países que não as possuíam, como por exemplo o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP), o de Proscrição Abrangente de Ensaios Nucleares (CTBT), e os que instituíram zonas livres de armas nucleares, entre outros.
Desde meados da década de 1990, no entanto, os órgãos deliberativos e mecanismos negociadores das Nações Unidas criados pela I Sessão Especial da Assembleia Geral sobre Desarmamento (SSOD I), notadamente e Conferência do Desarmamento e a Comissão de Desarmamento, se encontram virtualmente paralisados, o que tem impedido progressos tangíveis no sentido de novos acordos multilaterais para o controle e eliminação das armas nucleares. Ao mesmo tempo, observa-se uma erosão da confiança e credibilidade dos acordos existentes, inclusive o TNP, considerado a “pedra angular” do regime internacional de não proliferação. Muitos países advogam a necessidade de realização de uma nova Sessão Especial a fim de revitalizar as estruturas internacionais dedicadas a esses temas, porém as potências armadas e seus aliados se mostram reticentes.
Essa situação gerou um sentimento de profunda frustração em grande parte da comunidade internacional, que passou a procurar maneiras de promover avanços em direção a novos acordos de desarmamento. A oportunidade surgiu na Conferência de Exame do TNP, em 2010, que registrou pela primeira vez, em seu documento final, a preocupação dos Estados-Parte do Tratado com as consequências “catastróficas” de qualquer uso de armas nucleares. Até essa Conferência, o tratamento internacional da questão das armas nucleares costumava focalizar a dissuasão, a estabilidade estratégica entre as grandes potências, os perigos da proliferação e os desafios de cumprimento dos compromissos dos países não nucleares.
A Conferência de 2010 representou um divisor de águas: os focos principais passaram a ser o próprio armamento e as consequências de seu possível uso sobre os indivíduos e o meio-ambiente. Isso modificou os termos do debate sobre a utilidade e aceitabilidade dessas armas, facilitando o exame crítico do contexto normativo vigente e permitindo o desenvolvimento de um novo contexto que desafia a alegada legitimidade da posse permanente e planejamento de uso do armamento atômico. Três conferências internacionais realizadas em 2013 e 2014 apontaram com detalhe os efeitos ambientais, econômicos e sociais de detonações nucleares.
Normas internacionais e Direito Humanitário
A partir desses antecedentes e com o apoio de organizações da sociedade civil, os países não nucleares mais ativos na promoção do desarmamento nuclear, inclusive o Brasil, assumiram a iniciativa. Apesar da oposição dos possuidores a Assembleia Geral da ONU aprovou em 2015 a convocação de uma Conferência encarregada de “negociar um instrumento juridicamente vinculante para proibir as armas nucleares e que leve a sua total eliminação”. O texto do Tratado de Proibição (TPAN) foi adotado pela Conferência negociadora em 7 de julho de 2017 com 122 votos a favor, uma abstenção um contrário e posteriormente aberto à assinatura dos estados. O TPAN tem atualmente 97 signatários, dos quais 69 já o ratificaram. É o único acordo em vigor que inequivocamente obriga todos os seus membros a destruir os arsenais nucleares existentes e a tomar medidas para a mitigação dos danos individuais e ambientais decorrentes de seu uso.
Os únicos ataques atômicos da história ocorreram há 78 anos. Durante esse período, em diversas ocasiões o mundo se viu diante da possibilidade de novo uso bélico do armamento nuclear. Ao longo das décadas da Guerra Fria, o total de armas nucleares existentes no mundo chegou ao alarmante máximo de mais de 70 mil, a imensa maioria em poder de duas potências envolvidas em uma rivalidade e hostilidade que dura até nossos dias. Para alívio de muitos, o número de ogivas nucleares e seus vetores decresceu daquele total até as cerca de 13 mil que se estima existirem atualmente nos arsenais de nove países. Essa redução, no entanto, foi sendo paralelamente anulada pelos constantes aperfeiçoamentos tecnológicos que trouxeram maior velocidade, furtividade e poderio explosivo ao armamento. Ao mesmo tempo, seus possuidores continuam elaborando planos e cenários que contemplam sua utilização.
O General Lee Butler, que foi chefe do Comando Estratégico norte-americano (STRATCOM) no início dos anos 1990, afirmou em uma entrevista em 2015 que “a humanidade escapou de um holocausto nuclear devido a uma combinação de competência, sorte e intervenção divina – provavelmente esta última em maior proporção”. Ainda hoje essa advertência merece ponderação.
Pelo menos por duas vezes documentadas o mundo esteve à beira de uma catástrofe, somente evitada por circunstâncias fortuitas. Em diversas outras ocasiões comandantes militares deixaram de lado a opção nuclear, que pareceria indicada nas circunstâncias. Na Guerra do Golfo, por exemplo, em 1991, o uso de armas nucleares de baixa potência possivelmente teria sido militarmente útil no deserto do Iraque, onde causariam relativamente poucos danos colaterais e não haveria resposta nuclear por parte do regime de Saddam Hussein, que efetivamente não possuía tais armas. No entanto, essa possibilidade aparentemente não entrou nos planos dos chefes.
Para justificar a posse exclusiva de capacidade nuclear bélica, as potências nucleares procuram atribuir em grande parte à teoria da dissuasão nuclear o fato de que não houve até hoje um enfrentamento atômico entre elas. Durante nos anos da Guerra Fria os líderes ocidentais costumavam observar, com certo orgulho, que devido à existência de armas nucleares desde 1945 não ocorreram guerras na Europa. Esse argumento dificilmente se sustenta agora, diante da eclosão naquele continente do conflito entre a Rússia, detentora do maior arsenal nuclear do planeta, e a Ucrânia, apoiada militarmente pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), da qual fazem parte três outras potências atômicas – Estados Unidos, França e Reino Unido. A estridência das ameaças de lado a lado não tranquiliza a humanidade.
Desde a Antiguidade certos tipos de armamento têm sido estigmatizados e banidos devido a suas características excessivamente cruéis ou efeitos indiscriminados. Ao longo do tempo cristalizaram-se os princípios básicos do direito internacional humanitário aplicável aos conflitos armados: distinção entre combatentes e não combatentes, proporcionalidade na resposta a ataques, não causar danos ao meio-ambiente e evitar sofrimento excessivo ou desnecessário.
As armas nucleares costumam ser lançadas contra cidades inteiras e não fazem distinção entre alvos civis e militares. Além disso, os efeitos duradouros da radiação após uma explosão nuclear não podem ser controlados e atingem todos os que se encontrem na área circunjacente. O princípio da proporcionalidade proíbe ataques que causem danos colaterais desmesurados em relação a suas vantagens militares. Por outro lado, o uso de armas atômicas produz consequências altamente danosas ao meio-ambiente e acarreta sofrimentos prolongados e extremamente cruéis, conforme amplamente documentado após os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki.
Por esses motivos, a Corte Internacional de Justiça concluiu, em sua Opinião Consultiva de 1966 sobre a legalidade do uso de armas nucleares que “o uso ou ameaça de uso de armas nucleares seria em geral contrário às normas de direito internacional aplicáveis em conflitos armados, e em particular aos princípios e normas do direito humanitário”.
Embora enfrentando desde sua concepção uma forte campanha de pressões e coerção por parte dos países nucleares e alguns de seus aliados, a proibição das armas nucleares é hoje norma integrante do Direito Internacional positivo e conta com o apoio da opinião pública mundial. As outras duas categorias de armas de destruição em massa – químicas e bacteriológicas (biológicas) – já se encontram proibidas por tratados multilaterais subscritos pela ampla maioria das nações.
Por seu exemplo e ação multilateral construtiva, o Brasil tem desempenhado um papel de relevo na promoção dos instrumentos internacionais no campo do desarmamento e não proliferação nuclear. Nosso país foi o primeiro a assinar o Tratado de Proibição, que se encontra atualmente em exame no Congresso Nacional. A universalização desse instrumento é elemento importante para transformar o “tabu nuclear” em norma de direito internacional reconhecida e respeitada por todos.