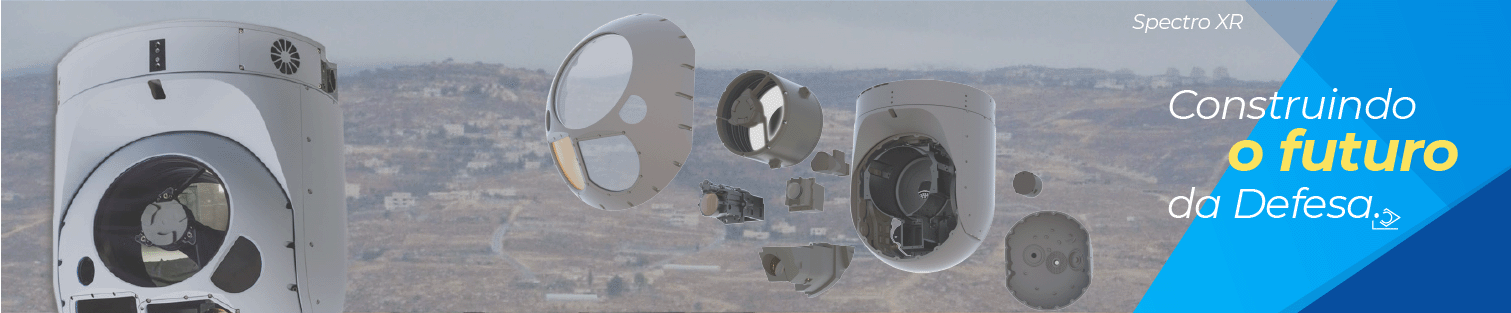Eduardo Bresciani
Prestes a assumir a presidência do Superior Tribunal Militar (STM), a ministra Maria Elizabeth Rocha diz que caberá ao Supremo Tribunal Federal reavaliar a validade da Lei de Anistia em virtude de recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos de que crimes cometidos naquele período considerado a Convenção Americana, como os de tortura, devem ser investigados.
Se o STF entender que os casos devem ser investigados, apesar da anistia, a ministra entende que caberia ao STM fazer os julgamentos de mérito. Maria Elizabeth Rocha tomará posse na próxima segunda-feira e será a primeira mulher a comandar o tribunal. Ela destacou-se por decisões favoráveis a direitos de homossexuais, ressalta a existência de preconceitos contra diversas minorias e afirma ser papel do Judiciário reconhecer direitos para combater essas discriminações.
Confira trechos da entrevista:
Qual o sentimento de ser a primeira mulher a presidir o STM?
“Fico muito honrada, primeiro porque essa é uma corte de Justiça que sempre respeitei. Ela tem uma trajetória que poucos conhecem, mas que dignifica a democracia e sua própria existência. É um tribunal que me honra integrar. Ser a primeira mulher é uma vitória sobre a questão do empoderamento feminino pela qual sempre lutei.”
Como isso pode se refletir na carreira militar, onde as progressões para as mulheres são mais lentas?
“A presidente Dilma assinou algumas leis que permitem às mulheres ingressar em determinados segmentos, determinadas armas que não eram permitidas. Acho que minha posse é só um exemplo e fico honrada em ser talvez um paradigma para aquelas mulheres que querem ingressar em um universo que é tão masculino, que são as Forças Armadas”.
Ainda há muito preconceito em relação as mulheres no meio militar?
“Acho que ainda vivemos em uma sociedade que é sexista e discriminatória, não só no meio militar. E não só em relação às mulheres. A sociedade discrimina as minorias, os homossexuais, os afrodescendentes, as mulheres e a quebra dessas resistências são conquistas que são alcançadas ao longo do tempo por meio de muita luta, de muito embate.
Não me refiro só ao Brasil, mas em nível mundial as mulheres ainda são minorias, ainda são coisificadas e ainda há um longo caminho em busca da igualdade.”
O trabalho da senhora teve destaque no STM por decisões a favor de direitos de homossexuais. É um tema que pretende levar para a presidência?
“As pautas são definidas pelo regimento, mas, com certeza, tenho feito um trabalho e tenho de dizer que muito antes do STF decidir sobre a união homoafetiva, nós tivemos aqui uma decisão administrativa concedendo a uma servidora o direito de que a companheira pudesse ser beneficiada por plano de saúde.
E eu fui acompanhada pelos meus pares, não houve nenhuma resistência. Acho que a quebra dos preconceitos é uma conquista paulatina, que depende de uma longa trajetória histórica em que os atores sociais têm de atuar para buscar essa igualdade. Foi uma decisão que eu prolatei e que todos os colegas me acompanharam, por ser um direito devido, porque hoje a questão do afeto, da família, adquiriu dimensões maiores do que então se concebia.”
Qual a papel do Judiciário na discussão destes direitos?
“O papel do poder Judiciário é justamente defender minorias que foram historicamente segregadas, como as mulheres, os povos afrodescendentes, os homossexuais.
Cada qual, claro, dentro de seus limites de competência. Eu acho que a atribuição essencial da judicatura e dos magistrados é concretizar direitos e garantias fundamentais. Nesse sentido compete a nós abrigarmos todos os pleitos que forem feitos de segregações e discriminações que, a meu ver, são odiosas.”
Essas decisões provocam críticas no Congresso de invasão de competência legislativa. Como respondê-las?
“É o papel do Judiciário efetivar os direitos dos indivíduos. O controle da constitucionalidade por omissão está previsto na Constituição e visa auxiliar o poder Legislativo quando não conseguiu ou não teve tempo ou oportunidade para prolatar essas lacunas que a Constituição propositalmente deixou. O Judiciário não pode virar as costas para aqueles que estão reivindicando, não pode sair pela tangente, tem que dar uma resposta a quem está pleiteando um direito.”
Há um debate no CNJ sobre a possível extinção da Justiça Militar. Qual a sua posição?
“O que o CNJ propôs não foi extinguir, mas rever, reestruturar a Justiça Militar. Nisso estamos de acordo. É preciso que instituições se revitalizem. Quando se fala em hierarquia e disciplina, em última análise está se falando em segurança e paz social porque homens armados quando se desorganizam, se amotinam, ameaçam o regime democrático, ameaçam a sociedade vulnerável e desarmada.
A Justiça Militar serve a isso por ser célere, eficiente e sobretudo rígida. Ela é extremamente rígida. O que se propõe é promover alterações legislativas nos Códigos que estão defasados e também a ampliação da competência, que estamos reivindicando, para que possamos julgar as infrações militares na justiça federal.
Hoje a gente tem uma situação esquizofrênica porque entre infração e crime a linha é tênue. Muitas vezes um juiz decide de uma maneira uma infração e nós decidimos o crime de outra aqui. E a posição do juiz comum é geralmente menos gravosa do que a do tribunal. Isso faz com que haja fragmentação da jurisprudência.”
Há motivo para existir uma justiça militar em tempos de paz?
“As Forças Armadas e as policias militares têm de ser contidas. Por exemplo, uma greve, nesses casos, não é greve, é motim, porque eles têm armas. A sociedade brasileira vivenciou o caos que foi a greve dos controladores de voo.
No caso dos policiais militares que fazem greve diante de uma sociedade vulnerável, desarmada, eles colocam em risco o estado democrático. Cidadão armado tem de ser controlado com rigor. São tribunais que julgam em tempo célere e nos quais a punição tem efeito pedagógico para a tropa.
O número de prescrições é mínimo. Um militar, quando é culpado, não quer ser julgado pela justiça militar porque sabe que será condenado. Há um equívoco, um desconhecimento e um preconceito.”
Qual a opinião da senhora sobre as discussões de revisão da Lei de Anistia. A senhora acha juridicamente possível revê-la?
“Cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir. Ele já decidiu, mas é claro que pode rever essa decisão em razão da posição da Corte Interamericana do caso Gomes Lund, na qual condenou o Brasil recomendando que estes crimes fossem apurados.
Se o Supremo entender pela inviabilidade da lei, entendo eu que até por uma questão constitucional o foro adequado para julgar as condutas é este, a justiça militar. Então eu não gostaria de prejulgá-los. A Lei de Anistia foi muito ampla, teria de se verificar quais as condutas que não podem ser anistiadas. Não creio em uma simples revogação. A discussão tem de ser mais densa.”
Mas cabe a rediscussão da decisão do Supremo?
“O Supremo fatalmente terá de se pronunciar, mas só o pode fazer se for provocado. Se houver provocação, terá de falar. Não é porque houve recomendação da Corte que será chamado a falar, mas se for acionado com base nela, e acredito que terá repercussão geral, o Supremo terá de falar.
Vai depender de como o Supremo vai encarar a matéria, sobre o papel da Corte Interamericana. Isso exige estudo, aprofundamento. Se isso vai acontecer, ou quando isto vai acontecer é uma incógnita que não tenho condições de responder porque nenhum de nós sabe qual seria a resposta”.