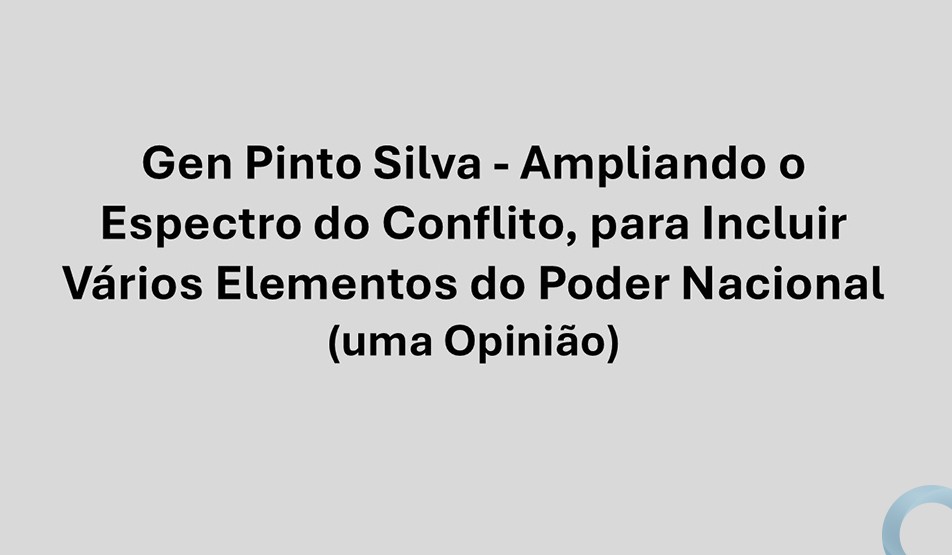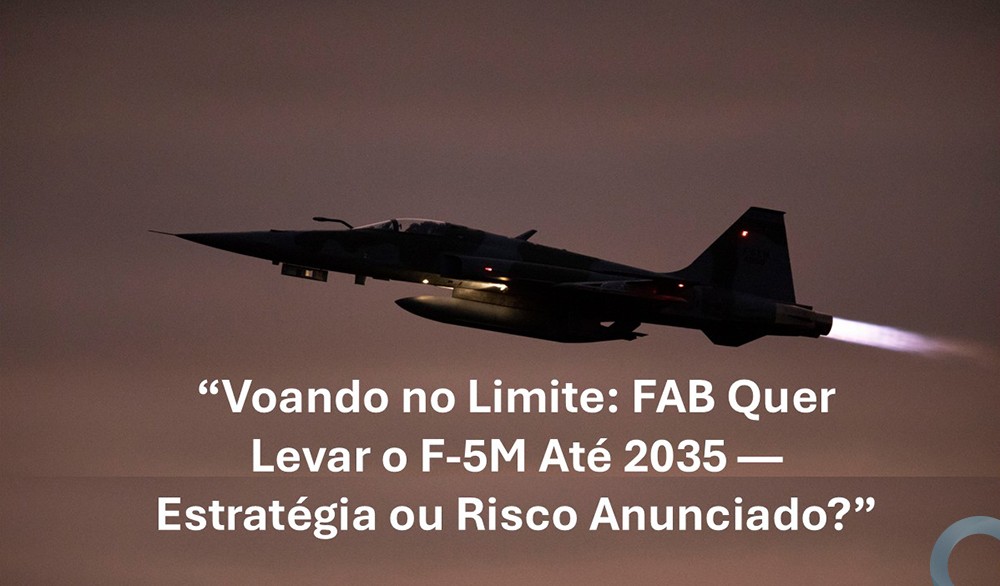Foto aérea das ações do dia 18 de Outubro de 2025 no Rio de Janeiro. Os incêndios claramente indicam os limites do controle do terreno. Foto web
Francisco de Assis Saraiva da Rocha
Suboficial (RM1-FN-IF) Comandos Anfíbios
A compreensão do fenômeno criminal brasileiro contemporâneo exige abandonar terminologias que, por hábito institucional ou conveniência política, já não descrevem a realidade dos fatos. O uso recorrente do termo “facções criminosas” sugere estruturas desorganizadas, voltadas primordialmente ao lucro ilícito e ao domínio de mercados informais. Contudo, as principais organizações atuantes no território brasileiro — como Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV), Família do Norte (FDN), Guardiões do Estado (GDE) e milícias paramilitares — já ultrapassaram há muito tempo a condição de grupos criminosos ordinários. Sua atuação consolidada apresenta todos os elementos constitutivos do terrorismo em sua acepção moderna, articulando coerção política, controle territorial, subversão da autoridade estatal e emprego deliberado de violência exemplar com finalidades estratégicas. Em termos conceituais, o fenômeno em pauta deve ser corretamente denominado narcoterrorismo, entendido como a conjunção entre economia ilícita baseada na droga, estrutura organizacional de tipo militar irregular e uso sistemático do terror como instrumento de governança paralela.
O terrorismo, enquanto categoria analítica e jurídica, não pode ser reduzido a atos motivados por fanatismo religioso ou agendas ideológicas formalizadas. A literatura clássica de Estudos de Segurança demonstra que o terrorismo constitui um método, não uma ideologia. Bruce Hoffman, Martha Crenshaw e David Rapoport definem terrorismo como o uso calculado da violência, ou da ameaça de violência, com o objetivo de coagir, intimidar ou influenciar uma população ou governo, buscando fins políticos explícitos ou implícitos.
No plano jurídico, legislações nacionais e acordos internacionais convergem na compreensão de que o terrorismo se caracteriza pelo emprego de violência destinada a criar terror generalizado, submetendo sociedades a um regime de medo e controle indireto. As doutrinas militares contemporâneas, especialmente no âmbito da guerra irregular e da insurgência, ampliam esse enquadramento: grupos armados não estatais podem realizar terrorismo com fins econômicos e territoriais, desde que a finalidade da violência seja produzir governamentalidade paralela, alterando a relação entre Estado, território e população.
Essa distinção é crucial para o caso brasileiro. Não se trata apenas de organizações que buscam acumulação financeira mediante o comércio de drogas ilícitas. O narcotráfico é, antes, o mecanismo de sustentação material de uma estrutura política de poder. A violência utilizada pelas organizações criminosas não tem apenas função punitiva ou operacional; ela é projetada de maneira intencional para estabelecer disciplina social, hierarquia comunitária e legitimidade forçada.
As execuções públicas, esquartejamentos, estupros coletivos, torturas e rituais de punição possuem caráter pedagógico, comunicando à população que a autoridade legítima é a do grupo armado e não do Estado. O terror, nesse contexto, é governança.
Os exemplos empíricos abundam e são sistemáticos. Nos territórios controlados por essas organizações, especialmente em áreas urbanas periféricas e regiões de fronteira, práticas de punição física exemplar são realizadas de forma ritualizada e metódica. Há relatos consolidados de “micro-ondas”, nos quais vítimas são incineradas vivas dentro de recipientes improvisados com pneus e combustível, técnica comparável às employed por grupos insurgentes na África Subsaariana. As amputações, esquartejamentos, desmembramentos e estupro de moças menores de idade e adultas casadas não são atos impulsivos: são atos de comunicação política, destinados a controlar coletividades e demonstrar capacidade de impor ordem.
O mesmo se aplica aos chamados “tribunais do crime”, uma estrutura judicial paralela que julga, sentencia e executa indivíduos segundo códigos internos próprios, sem qualquer relação com o ordenamento civil ou penal do Estado brasileiro. Em certas localidades, esses tribunais já substituem de maneira integral o aparato judicial formal.
Além dessas práticas, há mecanismos de coerção social menos espalhafatosos, porém igualmente estruturantes. A imposição de “exílios” forçados — expulsões sumárias de famílias inteiras de bairros e comunidades — é uma forma de engenharia demográfica deliberada, utilizada para recompor bases de apoio, eliminar opositores e reconfigurar a paisagem política dos territórios dominados. O confinamento de pessoas em “casas de contenção” ou “casas de disciplina” funciona como sistema carcerário paralelo, no qual detidos permanecem incomunicáveis por dias ou semanas até o julgamento do tribunal interno.
Há ainda o emprego de punições graduais, como espancamentos públicos, tortura prolongada, trabalhos forçados, vigilância domiciliar e imposição de juramentos de lealdade. Práticas semelhantes são documentadas em insurgências armadas não estatais na Colômbia (FARC e ELN), no México (cartéis territoriais como CJNG e Sinaloa) e no Peru (remanescências do Sendero Luminoso), demonstrando que a governança do terror segue padrões transnacionais de controle populacional.
Além das formas já descritas de coerção e punição, os narcos brasileiros recorrem a práticas de eliminação de corpos de extrema violência e simbolismo com o uso de jacarés e porcos como instrumentos para fazer desaparecer cadáveres, assim como de emprego de ácidos — por exemplo, ácido sulfúrico e ácido clorídrico — para dissolver restos humanos. Em muitos desses casos, as investigações e testemunhos apontam que a brutalidade não é apenas pós-morte: vítimas são submetidas a torturas e, por vezes, à condição de serem consumidas ou dissolvidas ainda vivas, num ato que funciona tanto como execução quanto espetáculo punitivo para aterrorizar comunidades inteiras.
Esses métodos não são “detalhes” marginais: são parte da mecânica de dominação — exemplificam como o narcoterrorismo transforma violência em instrumento de governo e intimidação, e por isso devem ser mencionados com toda a gravidade política e criminal que merecem.
O controle social exercido é ainda mais amplo. Rotinas populacionais são monitoradas, horários de circulação são impostos, festas comunitárias só ocorrem mediante autorização dos líderes locais do grupo armado. Instituições públicas — escolas, postos de saúde, unidades administrativas — são frequentemente coagidas a negociar com essas organizações, seja para garantir funcionamento, seja para evitar ataques. Em diversas ocasiões, funcionários públicos são sequestrados, ameaçados ou coagidos a colaborar. Na lógica da insurgência, isso significa que a soberania estatal foi parcialmente substituída por um poder paralelo que governa populações, regula conflitos e controla a vida cotidiana.
Além da coerção sobre civis, há ataques dirigidos explicitamente contra o aparato estatal. A queima coordenada de ônibus em capitais como Fortaleza, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e Natal não visa apenas ao dano material, mas ao bloqueio de circulação urbana, ao colapso de fluxos logísticos e à demonstração performática de poder. Delegacias, organizações militares, guaritas policiais e prédios administrativos já foram alvos de ataques organizados, frequentemente com uso de artefatos incendiários, armas automáticas, dispositivos explosivos improvisados e inteligência operacional. Essas ações possuem estrutura ofensiva compatível com operações de guerrilha urbana, com planejamento de linhas de retirada, monitoramento de rotas de patrulha e observação sistemática de padrões de atuação das forças de segurança.
A execução de ataques coordenados não é eventual. A capacidade logística dessas organizações deriva de sua presença nas rotas internacionais de tráfico, especialmente nos corredores amazônicos de passagem de cocaína oriunda do Peru, Colômbia e Bolívia. Essa inserção em cadeias transnacionais de valor ilícito concede acesso a armas de maior capacidade bélica, optrônicos, redes financeiras clandestinas, sistemas de comunicação encriptados e alianças estratégicas com grupos paramilitares latino-americanos.
A capitalização gerada pelo narco terror permite a manutenção de arsenais, treinamento e remuneração de combatentes, sistemas de inteligência interna e estruturas permanentes de apoio comunitário (como cestas básicas, pagamento de funerais, financiamento de eventos locais), reforçando a imagem de autoridade substituta do Estado.
Nesse contexto, a afirmação recente do Ministro da Justiça Ricardo Lewandowski — de que “não há narcoterrorismo no Brasil” — carece de aderência empírica e de rigor conceitual. Proferida em entrevista coletiva ao comentar operações de segurança no Rio de Janeiro e no Ceará, a declaração parte de uma interpretação restritiva do terrorismo, presumindo que só seria possível classificá-lo como tal quando houver motivação religiosa, étnica ou ideológica explícita.
Tal compreensão contraria a produção acadêmica contemporânea e a matriz doutrinária de segurança nacional empregada inclusive pelas Forças Armadas brasileiras em seus manuais de Operações de Garantia da Lei e da Ordem. O narcoterrorismo brasileiro opera com intencionalidade estratégica: busca controlar território, disciplinar populações, corromper e exterminar agentes públicos estaduais e federais, submeter instituições nacionais e impor sua própria racionalidade normativa. Tudo isso constitui projeto político, ainda que não formalizado sob sigla partidária ou manifesto programático.
A perda de soberania efetiva em segmentos do território nacional é observável em métricas de governança. Em diversos bairros periféricos de capitais brasileiras, policiais ingressam apenas em operações de incursão excepcional, frequentemente com apoio de blindados, helicópteros e dispositivos de supressão de fogo. Há localidades em que ambulâncias e bombeiros só circulam mediante escolta ou negociação prévia com o grupo armado que ali exerce poder. Em áreas de fronteira da Amazônia, a presença estatal é, na prática, simbólica, enquanto as rotas de tráfico são controladas por consórcios terroristas com apoio de comunidades cooptadas ou intimidadas. Não se trata apenas de falência de policiamento, mas de erosão da soberania, conceito estruturante do campo da defesa nacional.
A partir desse quadro, o problema não pode ser enquadrado apenas como questão de segurança pública. Segurança pública lida com a contenção de comportamentos desviantes individuais ou coletivos em contexto de normalidade institucional. No caso presente, o que se verifica é uma insurgência armada territorializada, com racionalidade política própria, financiamento externo e capacidade de disputar o monopólio através da aplicação do terror por meio da força e capacidade armada.
O fenômeno desloca-se, portanto, para o campo da defesa nacional, exigindo compreensão estratégica integrada entre Forças Armadas, agências de inteligência, polícias e estruturas de controle de fronteiras, com coordenação federativa efetiva e não meramente protocolar.
A simbiose entre tráfico de drogas, contrabando de armas, garimpo ilegal, milícias urbanas e corrupção institucional evidencia um ecossistema criminal que opera como rede de poder paralela. Milícias, inicialmente compostas por agentes de segurança afastados ou ativos, evoluíram para conglomerados empresariais ilícitos que exploram gás, transporte alternativo, construção civil, telecomunicações e serviços básicos, reproduzindo lógica de Estado paralelo com cobrança de “tributação”. Em muitos territórios do Rio de Janeiro, diversos narco-grupos disputam áreas como se fossem teatros de guerra, com linhas de frente definidas e controle populacional mediante coerção armada. Tal configuração, em termos doutrinários, corresponde à figura clássica de guerra irregular, na qual múltiplos atores armados contestam o Estado pelo controle de frações do território.
Negar a existência de narcoterrorismo no Brasil não elimina o fenômeno, apenas impede que ele seja tratado com a gravidade que requer. A insistência em reduzir o problema à categoria genérica de “facções” desserve o planejamento estratégico e reforça a inércia institucional. A designação correta — narcoterrorismo — não é uma escolha retórica, mas um passo necessário para a formulação de políticas de enfrentamento compatíveis com a complexidade do cenário. Reconhecer o caráter terrorista das organizações criminosas é reconhecer que o Estado brasileiro enfrenta adversários políticos, não meros infratores.
A implicação estratégica dessa constatação é clara: a resposta não pode ser fragmentada, episódica ou reativa. Exige-se articulação interagências, controle efetivo de fronteiras, interrupção de fluxos financeiros ilícitos, neutralização de alvos de alto valor, reforma profunda das instituições de segurança e reconfiguração da presença estatal em territórios dominados por poder paralelo. Exige-se, sobretudo, assumir que a soberania está em disputa e que o Estado brasileiro, se não atuar com coerência estratégica e persistência histórica, continuará a ceder terreno — física e simbolicamente — para organizações cuja governamentalidade é baseada na aplicação irrestrita do terror.
O narcoterrorismo brasileiro não é uma ameaça futura. Ele é um projeto presente, estável e em expansão. E só pode ser enfrentado quando nomeado pelo que é. Enquanto o governo e políticos discutem semânticas, o narco terror finca bandeiras. Enquanto se disputa narrativa, se perde território. Estados não caem de um dia para o outro — eles apodrecem primeiro. E estamos suficientemente próximos para sentir o cheiro.