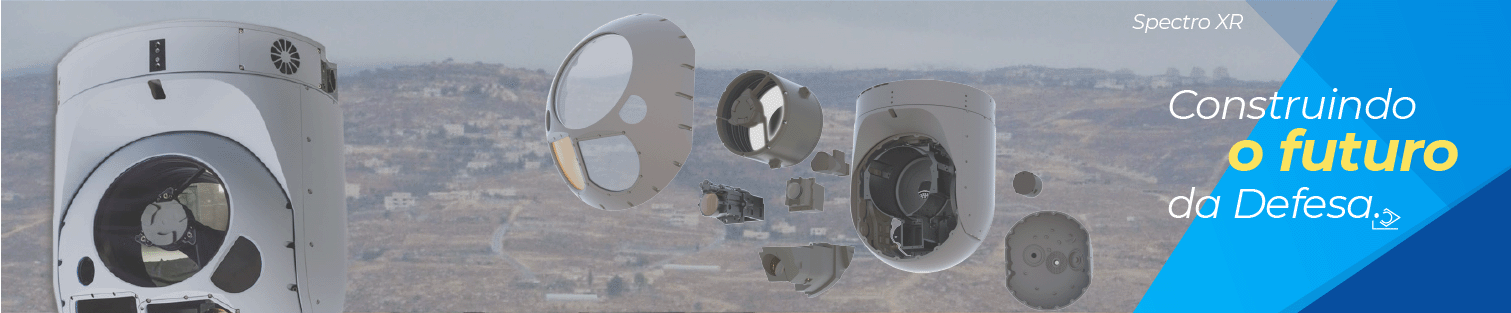Alon Feurwerker
E o Brasil? Para o país que ofereceu mediação no impasse árabe/israelense e tentou costurar o acordo entre Teerã e as potências em torno do programa nuclear iraniano, o atual silêncio é ensurdecedor. A explicação mais provável: o Itamaraty e o Palácio do Planalto não têm a mínima ideia do que fazer.
A resistência a apoiar os levantes democráticos no mundo árabe e islâmico têm dupla origem. Uns torcem o nariz pois preferem a continuidade dos déspotas amigos. Outros não, mas temem a emergência de forças político-religiosas fundamentalistas e autoritárias.
O exemplo é sempre o Irã. Onde a Revolução Islâmica libertou ventos democratizantes, para suprimi-los em seguida e lançar o país numa poliarquia teocrática. A esquerda iraniana, aliás, participou ativamente do movimento de 1979, antes de ser suprimida pelos aiatolás.
É o temor mais frequente no desdobramento da situação egípcia. Mas quem busca enfraquecer a influência ocidental na região não teme o cenário. Desse ângulo, o ideal seria ver emergir uma república islâmica sunita no Cairo.
Que em seguida poderia unir-se aos xiitas de Teerã e criar uma situação de forças na qual Washington só teria a retirada como alternativa.
Infelizmente para quem pensa assim, a conflagração iraquiana serve de termômetro da (im)possibilidade de coesão estratégica entre xiitas e sunitas. A união de todas as facções contra o elemento externo pode frequentar o discurso, mas daí à prática vai uma distância daquelas. O pan-arabismo foi e é apenas palavrório vazio.
Na Líbia, por exemplo, a república ditatorial, algo laica e bastante nepótico-cleptocrática do Coronel Muamar Gadafi vai sendo empurrada para a lata de lixo da História, na expressão clássica de Leon Trotsky sobre os socialistas-revolucionários que recusaram apoiar a Revolução Bolchevique de outubro/novembro de 17.
E quem empurra é uma composição heterodoxa.
A faxina de Trípoli é feita a quatro mãos pela aliança militar do Ocidente, a Otan, e rebeldes que também bebem da fonte fundamentalista. Inclusive com ligações marginais à Al Qaeda. Parece-lhe bizarro? Pois é a política. A arte de estar sempre pronto a romper com o aliado e a aliar-se ao adversário/inimigo.
O universo árabe e islâmico é um emaranhado de facções religiosas, políticas e militares. De nações desenhadas artificialmente pelo colonialismo. Não há linhas demarcatórias definitivas.
Isso complica ainda mais a vida de quem precisa tomar posição sobre o assunto. A esquerda brasileira é um exemplo. Comemorou a queda dos ditadores tunisiano e egípcio, aliados dos Estados Unidos, mas cerra fileiras em torno de Gadafi e do açougueiro de Damasco, Bashar Al Assad.
Em meio à confusão, a melhor abordagem, por enquanto, é a de Barack Obama. Que descartou sem muita hesitação aliados importantes, para estar em posição de lutar pela influência na nova ordem.
Pois árabes e muçulmanos têm o mesmo direito à democracia que os demais.
E o Brasil? Para o país que ofereceu recentemente mediação no impasse árabe/israelense e tentou costurar o acordo entre Teerã e as potências em torno do programa nuclear iraniano, o silêncio é ensurdecedor.
Podem querer que pareça sabedoria, mas a explicação provável é outra: o Itamaraty e o Palácio do Planalto não têm a mínima ideia do que fazer.
Pois só haveria duas opções: 1) apoiar decididamente a onda democrática ou 2) agir caso a caso conforme o interesse, conforme quem está no poder ou na oposição.
O governo brasileiro não anda convicto do primeiro caminho, nem está disposto a pagar o preço político embutido no segundo.
E aí fica de saquinho de pipoca e refrigerante na mão vendo passar o filme da História. Quando não sobra com o mico, como vai acontecendo na Líbia. E tem boa chance de acontecer na Síria.