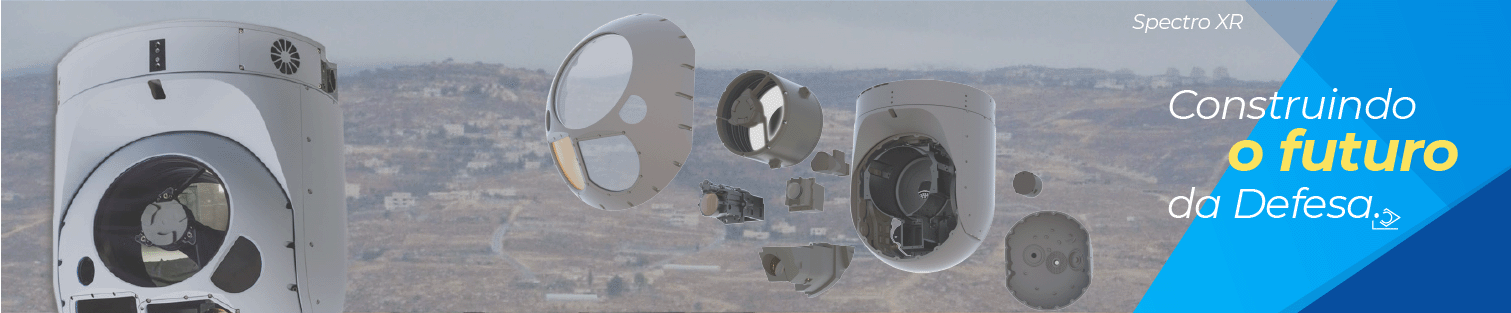Guerras, pandemias e o engodo da invisibilidade
“Quando empregada, uma força militar tem apenas dois efeitos imediatos: matar pessoas e destruir coisas. Se essas mortes e destruições servirão ou não para atingir o propósito global ou político que se pretendia que a força atingisse, isso depende da escolha de alvos ou objetivos, todos dentro do contexto mais amplo da operação. Essa é a verdadeira medida de sua utilidade”.
A citação acima, do General Rupert Smith, condecorado oficial do Exército Britânico, é lapidar. De tão clara e concisa, ela adquire contornos de tautologia, ao afirmar o que deveria ser óbvio.
No seu livro, “The Utility of Force: the Art of War in the Modern World” (2005), o General Smith, com o pragmatismo que lhe é característico, discorre sobre as razões para a existência de forças militares nacionais, entre outros temas. Suas observações têm como lastro mais de 40 anos de experiência no comando de tropas ao redor do mundo, incluindo sua última comissão antes da aposentadoria, a de Subcomandante das Forças da OTAN na Europa.
Mesmo tendo devotado a maior parte da sua vida à defesa dos interesses de seu país e, desse modo, ao convencimento dos decisores políticos sobre os instrumentos disponíveis para fazê-lo, ele prossegue na tarefa de jogar luz sobre a importância de alguns deles. Tamanha assertividade não se deve apenas a um traço cultural anglo-saxão, mas também nos indica que o óbvio precisa mesmo ser dito, sob pena de esmaecer em meio a outros interesses, esses sim, turvos e insidiosos.
Os ensinamentos do General nos são oportunos para observarmos com maior clareza o que ocorre no Brasil. As missões das nossas Forças Armadas — defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem —, reunidas sob um único artigo da Constituição, o 142, têm a mesma estatura normativa. Entretanto, a opção do legislador pela sequência com que foram escritas parece sinalizar, se não uma prioridade, ao menos uma gradação. Afinal, tanto a garantia dos poderes constitucionais quanto a preservação da lei e da ordem contam com outros mecanismos institucionais para lhes dar suporte, como os sistemas de freios e contrapesos e a existência de forças vocacionadas primordialmente à segurança pública.
Em se tratando de defesa da pátria, porém, é difícil conjecturar acerca de qualquer recurso que não envolva, em maior ou menor monta, o hard power militar, já que a guerra é, na acepção clausewitziana, “a continuação da política por outros meios”. Curiosamente, a Carta Magna não fala em defesa da nação, ou do país, ou do Estado. O termo utilizado é pátria, e o 142 é o único artigo, em todo o texto constitucional originário, em que esse termo aparece. Não por acaso, o vocábulo pátria foi pronunciado pela primeira vez em terras brasileiras durante a Batalha dos Guararapes, a epopeica expulsão dos invasores holandeses, gênese do Exército Brasileiro.
Além de todos os desafios que precisamos enfrentar, como nação, para conquistar a paz social, a coesão e a liberdade desejadas por todos, é preciso não esquecer que o atingimento desses objetivos nacionais exige um importante pré-requisito: a manutenção da soberania, que só é pragmaticamente assegurada pela prontidão de uma força militar capaz.
Sem ela, o Estado é privado do poder de implementar internamente suas decisões, ficando permanentemente à mercê dos caprichos e das ameaças de outros atores. Isso ocorre, como sabemos, graças à característica eminentemente anárquica das relações internacionais, ou seja, à inexistência de um “governo mundial”, uma autoridade central, hierárquica e coercitivamente capaz de solucionar controvérsias, legislar e impor a ordem.
Dessa forma, surpreende que uma parte da população ainda dê eco a determinadas críticas formuladas por certos veículos de comunicação que acabam por confundi-la. No geral, esses comentários partem de pessoas que, não raro, ou detêm apenas parte das informações ou, se as possuem por completo, decepam-nas intencionalmente, de modo a reforçar suas próprias narrativas. Um bom exemplo ocorreu em relação à recente Operação Amazônia.
Entre julho e outubro deste ano, o Comando Militar da Amazônia determinou a execução desse grande exercício de campanha em ambiente operacional de selva, que mobilizou, de forma colossal, tropas, veículos, equipamentos e armamentos diversos, incluindo, de modo inédito, o poderoso Sistema de Lançamento Múltiplo de Foguetes – Astros 2020. Conjuntamente, o Exército Brasileiro, a Marinha do Brasil e a Força Aérea Brasileira participaram da simulação, que se desenvolveu na região compreendida entre os municípios de São Gabriel da Cachoeira (no Rio Negro) e Coari (no Rio Solimões).
No cenário montado, em meio às enormes dificuldades logísticas da Amazônia, as Forças Armadas atuaram contra um exército invasor hipotético, cujas pretensões expansionistas violaram a fronteira brasileira. Para simular uma reação, diversas capacidades combativas foram praticadas e avaliadas, com destaque para o planejamento de ações no amplo espectro operativo, um moderno conceito segundo o qual as forças militares precisam, de modo simultâneo e/ou sucessivo, estar aptas a atuar de um extremo a outro na escalada dos conflitos.
Isso engloba, num crescente, desde as ações humanitárias e de apoio à população (com pequeno ou nenhum uso da força), passando pela repressão a ilícitos, pelo controle de distúrbios violentos, pelo combate a forças irregulares (atores não estatais), chegando até o emprego em alta intensidade (guerra de atrito), com base nos tradicionais princípios de guerra. Ao todo, cerca de 3.700 homens e mulheres oriundos de diferentes unidades militares da Amazônia Legal e do Planalto Central atuaram nesse exercício militar de proporções inéditas, com ricas lições aprendidas e variados dados testados.
A despeito desse extraordinário exercício, que inclusive atende aos próprios ditames constitucionais, parte do que se viu publicado pela mídia sobre o assunto resumiu-se, lamentavelmente, à presunção de que os custos teriam sido muito altos diante da urgência de combater o novo Coronavírus ou que haveria outras “guerras reais” a serem travadas no momento.
Sabe-se, porém, que os recursos destinados à manutenção da operacionalidade das forças militares constam do orçamento anual de Defesa e são especificamente vinculados a esse fim. Além de serem estimados com base em série histórica, são balanceados com outras necessidades da nação e, ao mesmo tempo, precisam ser compatíveis com a estatura de um país-continente. Seria preciso também perguntar: sem destinar recursos financeiros, de que modo se imagina que exércitos profissionais treinem? Provocando vizinhos para testar suas habilidades combativas? Discutindo teoricamente, em seminários e videoconferências, como fazer uso dos equipamentos?
Sobre a escolha de realizar um treinamento militar neste momento sensível, alguns veículos simplesmente presumiram que as Forças Armadas fizeram uma opção entre duas possíveis: manter-se capacitadas ou apoiar os esforços contra a pandemia. Nada mais equivocado, pois os números reiteradamente apresentados pelo Ministério da Defesa demonstram a magnitude do empenho dos militares na luta contra a doença.
Em março deste ano, o Comandante do Exército, General Edson Leal Pujol, afirmou que o combate à pandemia talvez fosse a missão mais importante de nossa geração. Sua diretriz foi convertida em ações, e a mão amiga do Exército engajou quase 24.000 militares na atuação contra esse letal inimigo invisível, sendo que ainda não há prazo previsto para essa desmobilização. Poucos meses depois, de modo simultâneo ao esforço contra a COVID-19, foi desencadeada a Operação Amazônia, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária. Ações emergenciais de apoio à população e manutenção de capacidades bélicas sendo realizadas de modo independente, porém coordenado. Até porque, a sensação de que em 2020 o mundo teria parado é nada além disso: uma sensação.
Tanto é verdade que, em setembro deste ano, precisamente enquanto nossas Forças Armadas treinavam em solo amazônico, eclodiu na região do Cáucaso uma guerra de fricção convencional entre dois Estados, um tipo de conflito que não se observava, com essas características, desde o início dos anos 1990. Tudo aquilo que se imaginava extinto, de repente ressurgiu: tropas regulares bombardeando-se mutuamente, linhas de contato com quilômetros de trincheiras, batalhas de tanques, uso massivo de canhões, “terras de ninguém” (largas faixas de terreno cuja alternância no controle é disputada por meio de contínuas escaramuças de patrulhas).
Algumas análises indicavam que “guerras assimétricas”, “híbridas”, “de quarta e quinta gerações”, cujos oponentes seriam apenas grupos não estatais fragmentados, iriam substituir por completo a necessidade dos exércitos tradicionais da guerra industrial interestatal. Artilharia pesada (incluindo lançadores de foguetes) e outras armas cinéticas, forças blindadas robustas e uma infantaria versátil não mais seriam úteis. Segundo essa concepção, o melhor seria que os exércitos tradicionais se voltassem para os “verdadeiros” inimigos: a fome crônica, os crimes ambientais, a violência armada organizada e o narcotráfico.
Mais uma vez, ouçamos o General Smith: “a arte da guerra reside em alcançar uma assimetria sobre o oponente. Denominar guerras de ‘assimétricas’ parece-me um eufemismo para evitar reconhecer que meu oponente não está jogando segundo meus pontos fortes e eu não estou ganhando”. Não sem razão, a Operação Amazônia foi concebida e realizada sob um paradigma de conflito armado convencional, porém em amplo espectro, sem descuidar das capacidades envolvendo ações contra forças irregulares e outros atores não estatais.
De seu lado, o formato da Operação Amazônia evidenciou não apenas um alinhamento a modernos conceitos doutrinários, mas também reafirmou algo que, de tempos em tempos, precisa ser relembrado: em que pesem as demais potencialidades de uma força militar, a sua derradeira e imutável utilidade, em face da igualmente imutável natureza da guerra, é atuar como o braço forte da nação.
Tal como nas pandemias, é preciso não confundir a invisibilidade do inimigo com a sua potencial inexistência. É preciso continuar lutando contra o vírus, e apesar do vírus. Como observou Thomas Jefferson, “o preço da liberdade é a eterna vigilância”.