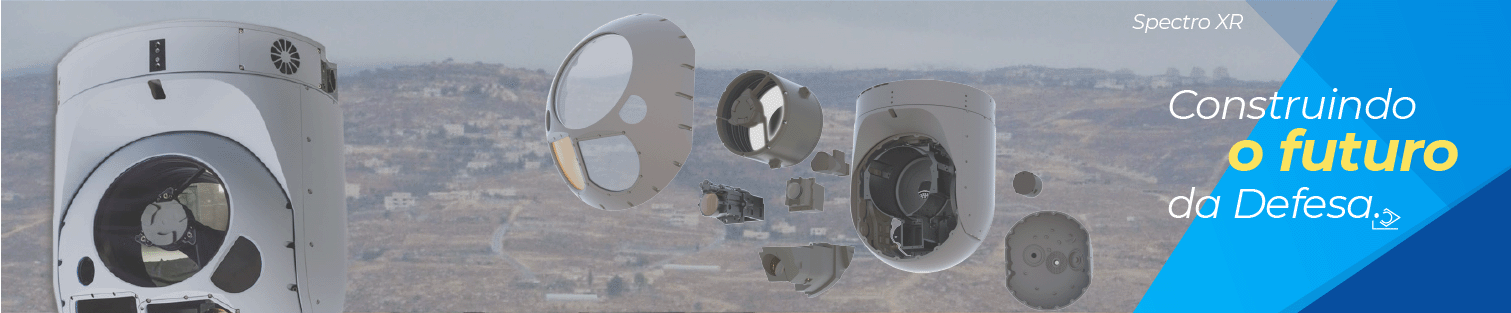O embaixador Bruno Delaye chegou a Brasília no fim de 2012, escolado por uma longa temporada em dos dois epicentros do terremoto econômico-financeiro que sacode a Europa: a Grécia, de 2003 a 2007, e a Espanha, em seguida — justamente quando a tormenta se desatou. Para o experimentado diplomata de 60 anos, sempre requisitado pela imprensa quando frequenta os corredores do Quai D’Orsay — o elegante palácio que abriga o Ministério das Relações Exteriores, em Paris —, a crise demanda cooperação entre as economias deficitárias e as que exibem excedentes. “As primeiras devem colocar as contas em ordem e as últimas devem fazer o papel de locomotivas, por meio dos investimentos e do consumo interno”, disse o embaixador francês, que recebeu o Correio na residência oficial.
Essa é uma das primeiras coincidências que Delaye enumera nas relações mais do que cordiais entre os dois países, marcadas, na sua definição, por “uma coincidência de pensamento e uma certa conivência ideológica”. Mas o representante francês ressalta que, à parte as afinidades entre os governos, “é preciso trabalhar”. E é nesse tom pragmático que ele alerta o Mercosul, sutil e discretamente, para o risco de ficar a ver navios com um possível acordo comercial entre a União Europeia e os Estados Unidos, que abrirão conversações formais em junho. Diplomaticamente, o embaixador exime o Brasil de responsabilidade pela paralisia nas negociações, mas sugere que o bloco sul-americano “fale com uma só voz e apresente uma estratégia”.
Otimista com o momento atual e com o potencial para a cooperação bilateral, Bruno Delaye ressalta a “intimidade” nas relações políticas e a “pujança” no terreno comercial e econômico. E aposta suas fichas no intercâmbio acadêmico e científico, na transferência de tecnologia para um país que ele já enxerga como “uma grande potência: “Claro que existe o curto prazo, os negócios, como todo mundo faz. Mas também tentamos olhar adiante, preparar o futuro”.
Depois de anos de muita proximidade entre os presidentes Nicolas Sarkozy e Lula, mudaram os governos no Brasil e na França. Como o senhor vê o momento atual das relações bilaterais?
Temos, de fato, uma nova conjuntura, mas há muitas condições vantajosas para as relações Brasil-França. A primeira é que já existe uma base muito sólida, construída desde a presidência de Jacques Chirac e de Fernando Henrique Cardoso. Ela permite uma relação política confiante, muito íntima, e uma interação econômica pujante, sobretudo no terreno dos investimentos. Desenvolvemos também a parceria estratégica, notavelmente no setor militar — algo que para nós, franceses, é um caso único no mundo. Não temos diferenças ou divergências graves e compartilhamos convicções semelhantes sobre assuntos importantes. Uma delas é quanto à necessidade de não ajustar as medidas de austeridade à recessão. Tanto na Europa, onde temos toda uma disputa política sobre isso, quanto no nível mundial.
Qual é a alternativa?
É preciso, a qualquer preço, estabelecer uma lógica de cooperação entre as economias deficitárias e as que têm excedentes. As primeiras devem colocar as contas em ordem e as últimas devem fazer o papel de locomotivas, por meio dos investimentos e do consumo interno. Brasil e França estão de acordo sobre isso, como se pôde verificar durante a visita da presidente Dilma Rousseff a Paris. Mas, claro: estamos de acordo filosoficamente, falta chegar lá. Um segundo ponto positivo é que temos nos dois países governos que partilham a mesma visão social, nacional e internacional, no sentido de que o crescimento a ser buscado deve gerar justiça social, e não alargar as distâncias. O modelo de desenvolvimento que o Brasil persegue, por vezes criticado na imprensa anglo-saxônica, como protecionista e de intervencionismo estatal, é um modelo que não se critica na França, absolutamente. Portanto, essa relação bilateral tem uma base histórica sólida e apresenta hoje a dupla vantagem de uma coincidência de pensamento e uma certa conivência ideológica. Mas, dito isso, é preciso trabalhar.
A União Europeia vai abrir negociações para um acordo comercial com os Estados Unidos. O Mercosul ficou de escanteio?
A UE propôs relançar em 2013 as negociações com o Mercosul, que estão paralisadas não é por vontade do Brasil, mas pelo fato de que o Brasil não está sozinho no bloco. Efetivamente, decidiu-se relançar as negociações com os EUA, em junho próximo, o que representa um enorme desafio, porque a UE exporta anualmente para os EUA US$ 270 bilhões — isso representa entre 15% e 20% do comércio exterior europeu. O Brasil, sem contar o restante do Mercosul, responde por 3%. Não é o mesmo porte, mas é também importante, porque o Brasil tem vocação para ser um parceiro comercial de primeira linha, pelas dimensões do país, pelas demandas, pelos investimentos. Não sabemos se as negociações com os EUA terão sucesso, mas são vitais, porque o comércio pode estimular o crescimento, num período de crise. Sou moderadamente otimista sobre as chances de um acordo UE-EUA. Da parte do Mercosul, o que se espera é que venham propostas que permitam relançar as negociações.
Como o senhor vê a ampliação do Mercosul, com o ingresso da Venezuela?
Para nós, da Europa, é bom que o Mercosul se amplie, que entrem a Venezuela e outros países. O que importa é que o Mercosul fale com uma só voz e apresente uma estratégia. Não nos cabe julgar a composição do Mercosul: se ele é grande, mas é unido, melhor.
Pelo lado da Europa, com a crise, qual é o espaço para fazer concessões?
Não é o momento de entrar em questões muito técnicas, mas sei que o Brasil examinou as vantagens e os inconvenientes e sei que para nós estarão colocados problemas na área agrícola. Nela temos interesses defensivos, como temos interesses ofensivos na indústria e nos serviços. E para o Brasil é o inverso. Portanto, será preciso encontrar um equilíbrio entre esses interesses. Mas, com eu disse, o Brasil não está sozinho no Mercosul: há outro grande país, outra economia importante, que é a Argentina.
O senhor falou nas convergências entre França e Brasil sobre questões internacionais, mas houve divergências muito claras a respeito da Líbia, por exemplo…
Sim, com o Brasil e com outros países que, na época, avaliaram que a coalizão formada para intervir na Líbia havia extrapolado o mandato do Conselho de Segurança. É um debate que ocorreu e que faz parte do passado. Do ponto de vista geográfico, Brasil e França não estão na mesma parte do mundo, não têm rivalidades. Há, sim, a questão muito grave das consequências da Primavera Árabe: ela trará mais democracia, mais liberdade e modernidade ao sul do Mediterrâneo? Ou depois dela virá o inverno? Esse é um real debate entre nós, e ninguém tem a resposta a essa questão. Somos confrontados com isso porque somos vizinhos, e por vezes temos de responder com urgência, uma urgência que não é sentida da mesma maneira pelo Brasil, que está em outro continente. Conversamos com o Brasil, procuramos fazer entender nosso ponto de vista e compreender o de vocês. Numa coisa estamos sempre de acordo: é preciso respeitar o sistema das Nações Unidas e os mandatos do Conselho de Segurança.
Em relação à Líbia, a França cobrou do Brasil que assumisse suas responsabilidades internacionais. O governo brasileiro, da sua parte, enfatizou a responsabilidade dos que intervêm pela segurança dos civis. Essa questão está colocada novamente agora, no Mali?
Está sempre colocada a questão dos efeitos colaterais de uma intervenção militar. Sobre isso, existem a teoria e a prática. Quanto à primeira, existe acordo nas Nações Unidas sobre a responsabilidade de proteger e a responsabilidade necessária ao proteger. Nesse debate, é conhecida a posição do Brasil. E há também a realidade. No Mali, tínhamos centenas de milhares de refugiados, gente forçada a deixar as cidades do norte controladas pelos terroristas. Graças à intervenção, essas pessoas puderam retornar. Em segundo lugar, foi feito um levantamento da situação e das capacidades das forças malinesas. Em terceiro lugar, tomamos medidas para que o Exército do Mali seja reorganizado como uma força eficaz, republicana e que respeite os direitos humanos. Essa tarefa caberá a uma missão da União Europeia, com 400 a 500 integrantes. Isso é a prática.
O presidente Sarkozy já dizia que o Brasil tem necessidade de se capacitar, do ponto de vista bélico, para esse tipo de tarefa…
O Brasil dá sua contribuição ao contingente da ONU no Haiti, e está em curso no país uma reflexão sobre a participação em forças de paz. Há também um grande programa para reequipar as Forças Armadas e dotá-las de tecnologia, já que é necessário proteger as fronteiras e a zona marítima — isso é totalmente normal e legítimo. O Brasil é uma grande nação comercial e precisa de segurança nos mares, notavelmente no Atlântico Sul. Há um bocado de questões nas quais se pode cooperar, inclusive questões concretas com as quais nos confrontamos, como a pesca ilegal no litoral da Guiana Francesa, do Suriname e do norte do Brasil. Para isso, já foi tomada a decisão de iniciar patrulhas franco-brasileiras — uma ação prática de aplicação imediata, sem necessidade de teorias.
Na área específica do material bélico, há alguma coisa em vista, além dos projetos para construção de submarinos e helicópteros?
Isso depende concretamente de decisões e arbitragens a serem feitas pelo Brasil, considerando seu plano estratégico para o setor e as realidades orçamentárias. A França está pronta, do ponto de vista político e técnico. Politicamente, isso quer dizer que, se o Brasil demanda que os contratos gerem atividade industrial e transferência de tecnologia, para nós isso não coloca nenhum problema, mesmo no que diz respeito às tecnologias mais sensíveis. Porque não vemos no Brasil uma ameaça potencial para nós. Podemos ir muito longe, não há limitações. Outros podem tê-las, mas não é o nosso caso. Tampouco consideramos que o Brasil possa se tornar um rival comercial. Estamos dispostos inclusive a partilhar a comercialização de produtos que venhamos a produzir juntos. Isso está previsto na oferta dos caças Rafale: o Brasil poderá produzi-los aqui e vender para outros países.
Como o senhor tem percebido, nesse período no Brasil, as relações cotidianas com a França?
Temos um ótimo mapa do caminho com o texto elaborado quando da visita da presidente Rousseff a Paris. Tanto no plano político, com consultas regulares entre chanceleres e ministros da Defesa, no marco da parceria estratégica, quanto em coisas concretas, como a iniciativa que citei contra a pesca ilegal. No plano econômico, decidimos realizar um fórum franco-brasileiro. O nível dos investimentos franceses no Brasil continua crescendo regularmente. Uma coisa que me satisfaz é saber que as empresas francesas vêm para cá investir, mas transferem tecnologia. Constroem fábricas, mas também centros de pesquisa. Não se trata apenas de vender máquinas para montar carros, mas de desenvolver instalações que produzam carros diferentes dos fabricados na Europa, que sejam adaptados ao mercado brasileiro, ao gosto dos consumidores brasileiros. E também se trata da formação de engenheiros brasileiros — no setor automobilístico, no farmacêutico, de cosméticos e até de embarcações de lazer. Também vai muito bem a formação de cientistas brasileiros na França: nos últimos 10 anos, formamos 25 mil engenheiros. Atualmente, temos 3.640 brasileiros a ponto de se formarem nas grandes escolas e universidades francesas. E todos os anos enviamos 1.500 cientistas franceses ao Brasil, seja para períodos mais longos ou mais breves, para conferências e intercâmbios. E é esse o caminho: a ciência é fundamental.
Até onde pode ir a parceria estratégica?
Nós apostamos no longo prazo com o Brasil. Claro que existe o curto prazo, os negócios, como todo mundo faz. Mas também tentamos olhar adiante, preparar o futuro. Porque pensamos que, na geografia do mundo, há uma América Latina muito dinâmica, e dentro dela um grande país, o Brasil, que será uma grande potência — aliás, já é. E isso não nos incomoda, absolutamente. Essa reorganização da ordem mundial não nos incomoda, ao contrário, abre novas possibilidades. Ao mesmo tempo, precisamos confrontar a crise na Europa e retomar o crescimento, isso é fundamental. Eu cheguei aqui, de uma parte, sereno, porque é uma boa época nas relações bilaterais, com um forte potencial. Ao mesmo tempo, cheguei com humildade, porque o Brasil é um gigante, não é possível conhecer tudo a respeito. Temos de seguir passo a passo, mas o roteiro é claro: trabalhar na transferência de tecnologia, na formação das elites brasileiras, nas relações em nível de sociedade civil — porque não se trata apenas de relações entre governos, que podem mudar. É com as ONGs e outras associações, com o mundo acadêmico e científico, os intelectuais, os artistas. Isso é o que dá a nós, franceses, uma certa pretensão de ser diferentes. Não estamos aqui apenas para vender e produzir, mas para compartilhar ideias e valores. Com o Brasil, isso acontece espontaneamente, seja quanto à organização do mundo, à justiça social, à proteção do meio ambiente, aos modelos de desenvolvimento. Também sobre a emergência dos países do sul, com modelos sociais inclusivos. Não temos dificuldades para conversar sobre a defesa da democracia, os direitos humanos, a organização de um mundo cooperativo. Vemos isso tudo como fatores positivos, nunca como ameaça. Não vemos o Brasil como um rival que tenta se colocar no páreo. Pode ser diferente em relação a outros países. A China nem sempre apresenta modelos cooperativos. É muito mais difícil, muito mais complicado. Com o Brasil, não temos problemas “metafísicos”.