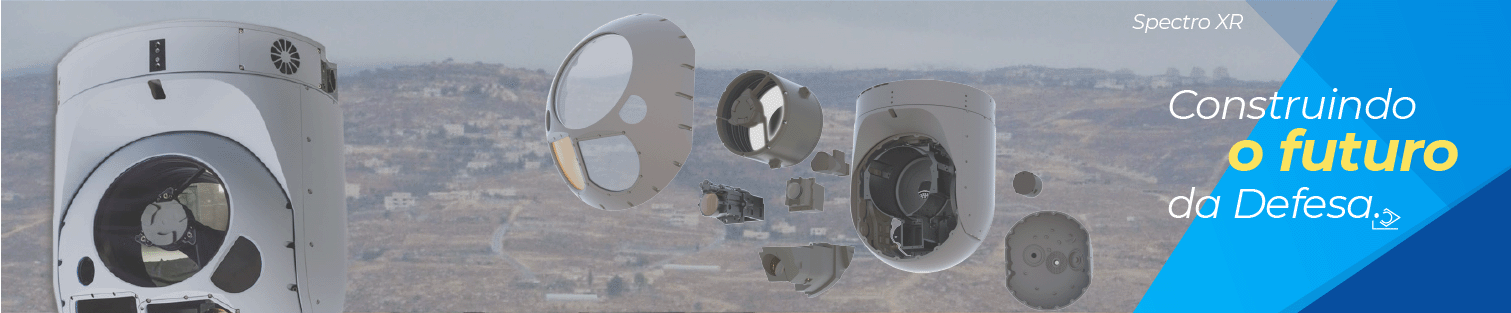O estrategista alemão Carl von Clausewitz definiu guerra como a continuação da política com outros meios. Possivelmente ele tinha em mente a política externa. Para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no entanto, guerra parece ser a continuação da política interna com outros meios.
Quanto mais o bilionário se vê sob pressão interna, quanto mais as investigações do procurador especial Robert Mueller vão se aproximando de sua pessoa – embora elas já tenham, até certo ponto, chegado até a esfera íntima, com as revelações da atriz pornô Stormy Daniels –, mais erráticas e também mais perigosas vão se tornando as ações externas de Trump.
A população síria é o que menos conta nas anunciadas ofensivas com mísseis. Se ela importasse, deveria haver uma estratégia coerente para o futuro da Síria. Contudo, não há qualquer sinal disso em Washington. Apenas uma semana após o surpreendente aceno de uma retirada completa das tropas americanas do território sírio, Trump anuncia agora um novo ataque pesado contra o país, além de ameaçar a Rússia, aliada da Síria, e ainda por cima desumanizar o adversário Bashar al-Assad ("animal").
O que quer que se pense dos presidentes russo e sírio, sem e muito menos contra eles não será possível, no atual estado de coisas, um fim da guerra, do sofrimento e das mortes na Síria. A declaração da escalada bélica via Twitter não passa de um recorde negativo temporário, e mostra o quanto Trump está distante das convenções da diplomacia internacional.
Com seu tuíte, por sua vez, o "commander in chief" reagiu a uma advertência da Rússia: caso alvos russos sejam atacados, não só os próprios mísseis serão destruídos, mas também serão bombardeadas as plataformas a partir das quais eles foram lançados.
Essa ameaça ostensiva, entretanto, não partiu do Kremlin, mas sim do embaixador russo no Líbano – a rigor de alguém abaixo do nível de Trump. E a Rússia seguramente não tem interesse numa confrontação direta com os Estados Unidos. Parece quase esquecido o fato de que no combate ao grupo "Estado Islâmico" (EI) – que, aliás, não está inteiramente derrotado –, as Forças Armadas russas e americanas atuaram em cooperação estreita.
Em troca do aplauso barato de seus adeptos, com palavras de efeito Trump joga gasolina na fogueira já ardente da Síria. Pelo menos alguns senadores americanos questionam criticamente o sentido de uma ofensiva americana – seja na forma que for – contra alvos na Síria.
A própria Casa Branca, contudo, ganhou nesta semana, com o novo assessor de Segurança Nacional, John Bolton, mais um "falcão" de uma classe especial. Há anos ele se manifesta a favor de uma guerra contra o Irã, e ainda hoje considera que a invasão do Iraque foi uma decisão acertada, apesar das consequências inegavelmente desastrosas.
Também o secretário de Estado Mike Pompeo confirmou sua fama de linha-dura na função de diretor da CIA. Se houver alguma resistência aos planos e métodos do presidente, esta deverá partir do secretário da Defesa, James Mattis, que sabe o que significa uma guerra.
Aliás, dois meses atrás Mattis fez constar que não vira provas conclusivas de que o ataque com gás tóxico contra a cidade síria de Khan Shaykhun em 4 de abril de 2017 tenha sido realmente da autoria de Assad. Na época, houve bem mais tempo para verificar as acusações. Agora, em contrapartida, paira a ameaça de uma confrontação com a superpotência Rússia e a potência regional Irã, com base em pouco mais do que vídeos no Youtube.
É espantoso que, no cenário internacional, apenas o secretário-geral da ONU, António Guterres, apele por moderação. Os aliados europeus e parceiros na Otan mantêm-se elegantemente contidos ou até mesmo se dispõem a participar de eventuais operações militares, como é o caso da França e do Reino Unido.
No entanto, devido à proximidade geográfica, as consequências de uma escalada bélica na Síria se farão sentir bem rapidamente na Europa. E não só através de um afluxo renovado de refugiados.
Bombardeio sem consequências, mas com uma mensagem


Provavelmente só daqui a algum tempo saberemos quão perto o mundo esteve do precipício de uma guerra entre as superpotências nucleares Estados Unidos e Rússia, em meados de abril de 2018. No momento, só parece claro que os EUA, Reino Unido e França se contiveram, que suas ofensivas se restringiram a alvos na Síria ligados à produção e armazenamento de substâncias químicas de combate.
Vítimas civis – a julgar elo atual estado das informações e com toda cautela que exige qualquer avaliação dos acontecimentos na Síria –, não houve praticamente nenhuma. Nos últimos dias, traçaram-se constantemente paralelos com a crise de Cuba, a confrontação entre a União Soviética e os EUA em 1962.
Do ponto de vista retórico, sem dúvida o mundo já estava (e está) novamente nesse ponto – pelo menos se o critério forem os alucinados tuítes de Donald Trump, acrescidos pelas ameaças abertas dos oficiais russos. Naquela época, contudo, a questão era preservar a primazia da política, diante dos generais e dos "Doutores Fantásticos".
A tática teve sucesso 56 anos atrás: a crise permaneceu no campo da política. Agora, entretanto, nos últimos dias antes das ofensivas aéreas sobre a Síria, escutaram-se de ambos os lados do Atlântico advertências que às vezes soavam como suspiros de impotência: tomara que desta vez a racionalidade dos militares prevaleça.
Racionalidade dos generais contra a falta de noção e de escrúpulos dos políticos: só mesmo tendo um tipo especial de humor político para achar graça nessa situação.
Recordando mais uma vez: milhares de soldados russos estão estacionados na Síria, combatendo do lado das tropas do dirigente Bashar al-Assad. Dois meses atrás, mercenários russos já haviam sido mortos em ataques da Força Aérea americana no Norte da Síria, sem que daí resultasse uma crise.
A coalizão contra o "Estado Islâmico" (EI), liderada pelos EUA, opera naquela região. Desta vez os alvos das investidas aéreas foram escolhidos de modo que nenhum soldado russo fosse atingido.
O canal de comunicação entre a liderança militar americana e o Estado-maior russo parece estável. Há bastante tempo especialistas relatam que o intercâmbio objetivo e minimamente confiável entre os oficiais de alto escalão de ambos os lados pouco sofreu, apesar da nova confrontação Leste-Oeste.
A Síria é talvez o palco de guerra mais confuso da história. Repetidamente têm se confrontado lá tropas cujas nações de origem ou ainda são aliadas nominais ou profundas inimigas do ponto de vista político.
A guerra civil no país está decidida pela intervenção da Rússia, em apoio a Assad, e pela aliança da Síria com o Irã. Os assim chamados "ataques de retaliação" das três potências ocidentais em nada mudam esse fato. No entanto, não são privados de sentido.
Com as atuais ofensivas aéreas, Washington, Londres e Paris deixam claras duas coisas: o emprego de armas banidas de extermínio em massa não fica sem consequências; não se admite a cínica negação e acobertamento de crimes de guerra, e não importa quem venha dar apoio, colocando em movimento sua máquina de propaganda.
Além disso, as potências mundiais não abandonarão o campo sem maiores comentários, mesmo tendo atrás de si anos de política falha, indefinida e claudicante. O Oriente Médio está diante de uma nova ordem, que não deverá ser decidida exclusivamente em Moscou e Teerã. Essa é a dupla mensagem dos bombardeios às fábricas químicas de Assad.
Acrescente-se um terceiro ponto: os EUA não agiram sós, mas sim em aliança com a França e o Reino Unido, não só em frente unida militar, mas também em estreita coordenação política. No ano dois da regência de Donald Trump, trata-se, sem dúvida, de uma boa notícia desta manhã de sábado.