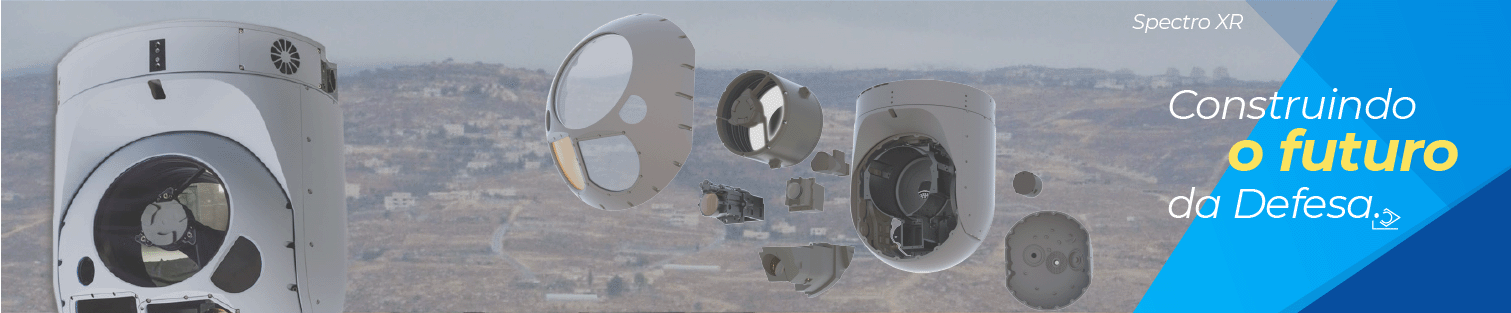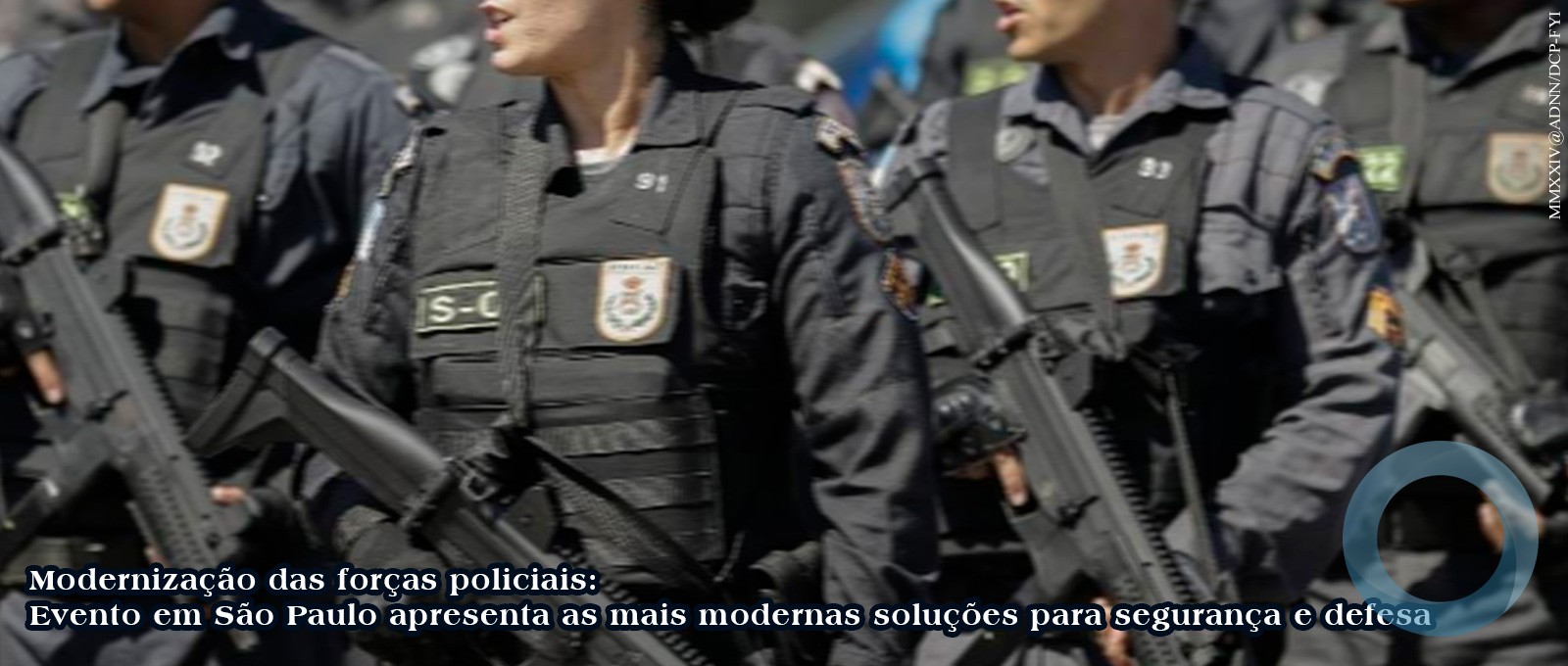|
NOTA DefesaNet A Guerra Híbrida aos Generais
Em uma sequência de quatro matérias publicadas em O Estado de São Paulo (2), Folha de São Paulo e revista Época no fim de semana mostram a estratégia da grande imprensa, também chamada de “extrema imprensa” de desacoplar os militares do governo Bolsonaro. Este movimento é necessário por vários motivos sendo os mais visíveis: 1- O mais logico enfraquecer o governo Bolsonaro, e, 2- Caracterizar os militares, que estão na equipe como meros fantoches. Porém, dois objetivos subterrâneos são fundamentais, e nisto a Folha e Grupo Globo apostam e o OESP segue a linha do governador João Dória. Um de política interna:
Neutralizar os militares e imobilizá-los, sem o que, as próximas ações do STF não poderão avançar: anular as condenações de Lula, encerrar a Lava Jato e tentar prender o juiz Moro e membros da equipe. E outro mais sutil de geopolítica continental e internacional.
Nas vésperas de receber o XI Reunião dos BRICS um presidente Bolsonaro fraco, seria ótimo para o avanço do processo de desconstrução interno e desequilíbrio da estabilidade continental com o novo Grupo de Puebla e reforçaria as Guerras Hibridas Latinas. Os quatro artigos publicados são: 1 – OESP – Novo general Heleno surpreende ala militar Link
Um forte ataque ao General Augusto Heleno, conduzido pela sempre correta jornalista Tânia Monteiro, que surpreendeu os meios militares em Brasília. Publicado no OESP, edição dominical 10NOV2019
2 – Época – O declínio dos generais dentro do Palácio do Planalto Link
Extenso artigo inclusive capa da edição de Época classifica os militares como meros serviçais no Palácio do Planalto Uma tentativa de conter os danos já provocados pelo discurso de Lula ainda em Curitiba, porem depois amplificados em São Bernardo do Campo. 4 – GHL – Generais do governo Bolsonaro revelam o que pensam sobre Chile e Bolívia Link Seguindo o mesmo caminho do artigo da FSP, Marcelo Godoy, tenta minimizar os danos das falas de Lula e conter os militares na busca de isolar Bolsonaro e enfraquece-lo. Publicado no Estadão 11NOV2019. A tudo isso o Comandante do Exército Gen Ex Edson Leal Pujol publicou no OESP, em 12NOV2019, seção de Opinião: Gen Ex Leal Pujol – O Exército, a Nação e a República Foi com o advento da República que o Exército atingiu sua maioridade institucional Link O Editor |
Ana Clara Costa
A influência dos militares no governo de Jair Bolsonaro costumava ser medida pela sobrecarga das agendas de seus principais expoentes nos primeiros meses de governo. Diante da pouca disposição do presidente para receber em seu gabinete diplomatas, empresários e lideranças políticas, esses setores buscavam os ministros Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional, GSI) e Carlos Alberto dos Santos Cruz (ex-Secretaria-Geral) e o vice-presidente, Hamilton Mourão, para tentar uma aproximação com os novos inquilinos do Palácio do Planalto.
Por receber políticos em excesso, Santos Cruz acabou minando o poder da Casa Civil e se indispondo com o chefe da pasta, Onyx Lorenzoni. Terminou demitido. A atribulada agenda de Mourão, somada a declarações que divergiam das de Bolsonaro, chegou a colocá-lo em posição antagônica ao chefe, arruinando a proximidade que ambos haviam alcançado durante a campanha. Bolsonaro o isolou.
Já Heleno passou a sofrer ataques da militância bolsonarista por tentar interferir demais na vida palaciana. Viu-se forçado a submergir e elevar o tom de suas declarações de apoio ao governo para mostrar que não era inimigo do presidente. O declínio do prestígio dos três principais expoentes da cúpula militar no Palácio do Planalto, agravado pela saída do chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), general Maynard Santa Rosa, na segunda-feira 4, sepulta uma das principais apostas que se tinha sobre a gestão de Jair Bolsonaro: a de que militares da reserva teriam voz ativa e poderiam modular as ações do presidente.
Após quase um ano de governo, ex-ministros e generais reformados, que costumavam ser procurados pelo setor privado justamente por terem boa relação com os novos ocupantes do poder, relatam a mudança de cenário. “Políticos, corporações, sindicatos, empresários, sobretudo do setor de energia, todos vinham conversar para tentar uma forma de interlocução com os militares para chegar ao governo. Hoje, perceberam que não adianta. Não procuram mais”, disse um ex-ministro que costumava ser requisitado para a função de interlocutor junto a Heleno e Mourão.
Da agenda oficial do vice, marcações recentes mostram menos compromissos com expoentes do primeiro escalão e mais viagens pelo interior do Brasil, em especial solenidades em federações de indústria e associações comerciais, além de audiências com vereadores (como o emedebista Valter Nagelstein, de Porto Alegre, no último dia 1º) e representantes de lojas maçônicas.
No início do ano, Mourão costumava receber ministros, senadores e presidentes de empresas, como Dell e Bradesco. Já Heleno, depois de ser atacado pelos filhos do presidente, passou a atrelar sua agenda à de Bolsonaro, fazendo-se presente, inclusive, nas redes sociais — que usa para desferir críticas a oponentes e elogios ao governo. Em alguns casos, faz eco a opiniões extremas, como quando se posicionou sobre os protestos no Chile e as eleições na Argentina.


“Na América do Sul, estamos vivendo um momento difícil, em que a esquerda radical, desesperada pela derrota, vai jogar todas as suas fichas na mesa para conturbar a vida dos países da região. Vai tentar retornar ao poder de qualquer maneira e nos jogar no abismo em que nós paramos na porta”, escreveu, em 23 de outubro.
Em outro gesto de alinhamento ao presidente, o general chegou a chancelar a declaração de Eduardo Bolsonaro à jornalista Leda Nagle sobre a volta do Ato Institucional nº 5. “Não ouvi ele ( Eduardo ) falar isso”, disse o ministro ao jornal O Estado de S. Paulo . “Se falou, tem de estudar como vai fazer, como vai conduzir. Acho que, se houver uma coisa no padrão do Chile, é lógico que tem de fazer alguma coisa para conter. Mas até chegar a esse ponto tem um caminho longo”, afirmou. Dias depois, em entrevista ao mesmo jornal, Heleno afirmou que sua fala fora tirada de contexto e negou apoio a uma medida autoritária.
À Folha de S.Paulo , disse que a atual geração de militares está vacinada contra “qualquer sintoma de ditadura”. Mas esse não foi o primeiro episódio em que ele se esforçou para demonstrar fidelidade ao presidente. Na mesma manhã em que voltou do G20, no Japão, em 30 de junho, o general vestiu uma camisa amarela e um boné azul e acompanhou Eduardo Bolsonaro em um carro de som em frente ao Congresso Nacional, durante os protestos em que manifestantes criticavam o presidente da Câmara e o do Senado e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Foi a primeira vez em que um ministro de Estado comparecia a uma manifestação convocada pela militância bolsonarista.
“Heleno voltou seus interesses para questões de geopolítica, área em que demonstrava divergências patentes com o núcleo mais ideológico do governo, em especial no aspecto do alinhamento automático aos Estados Unidos”
Foi ainda durante a campanha eleitoral que o general Augusto Heleno descobriu que não seria tutor de Jair Bolsonaro caso sua eleição se confirmasse. Ao tentar aconselhá-lo sobre as alianças políticas que vinham sendo costuradas pelo então candidato do PSL, ouviu dele uma invertida: “De política, entendo eu”.
A partir de então, voltou seus interesses para questões de geopolítica, área em que demonstrava divergências patentes com o núcleo mais ideológico do governo, em especial no aspecto do alinhamento automático aos Estados Unidos. Chegou a se envolver em entrevero com o assessor internacional de Bolsonaro, o olavista Filipe Martins, por discordar da tentativa de influência de Olavo de Carvalho nas indicações para cargos no Palácio do Planalto e em ministérios. Também dizia desconhecer a obra do ideólogo, o que causou revolta em alguns integrantes do núcleo duro do presidente, em especial os filhos Eduardo e Carlos.
Heleno tampouco demonstrou simpatia pela ideia da indicação do zero três à Embaixada em Washington. Então avesso às redes sociais, um perfil não oficial do general foi criado no Twitter pela militância bolsonarista. No auge da indisposição diplomática com a Venezuela, em fevereiro, a conta publicou uma declaração de apoio a uma possível reação militar do Brasil à Venezuela, em caso de “agressão à soberania” do país. O comentário terminou sendo veiculado na imprensa. O general se irritou com a associação de seu nome à ideia de “reação” e imediatamente ordenou que o perfil fosse apagado.
As faíscas com o núcleo ideológico se transformaram em incêndio em junho, quando o sargento da Aeronáutica Manoel Silva Rodrigues foi preso em Sevilha com 39 quilos de cocaína na mala, numa aeronave da Força Áerea Brasileira (FAB) que acompanhava a comitiva presidencial ao G20. O episódio despertou a ira de Bolsonaro, que atribuiu ao GSI a falha por não ter detectado o passageiro traficante. O descontentamento do presidente abriu as portas para que seus filhos, já contrariados com a postura do general, atacassem o trabalho de Heleno. “Por que acha que não ando com seguranças?
Principalmente aqueles oferecidos pelo GSI? Sua grande maioria podem ( sic ) ser até homens bem-intencionados, e acredito que sejam, mas estão subordinados a algo que não acredito”, escreveu Carlos Bolsonaro. Eduardo também usou as redes para fazer um gesto de apoio ao irmão. “O Carlos só expressou uma desconfiança dele, pessoal, e, mesmo assim, fazendo uma ressalva dizendo que a maioria dos funcionários, das pessoas que trabalham dentro do GSI ou fora, são pessoas que fazem um bom trabalho”, afirmou.
Nos bastidores, os filhos do presidente fizeram uma consulta sobre a possibilidade de os agentes designados para fazer a proteção presidencial deixarem de integrar o GSI e passarem a responder apenas ao Ministério da Justiça, o que minaria a principal função da pasta de Heleno. O pedido não prosperou — e os sinais públicos de fidelidade ao presidente se intensificaram na rotina do general.
O general Maynard Santa Rosa, com quatro estrelas cravadas na farda, era um dos mais próximos assessores do presidente. Por ter feito carreira na área de Inteligência do Exército antes da reserva, era visto como um dos principais informantes de Bolsonaro, mesmo antes de integrar o governo. Assim como o presidente, sempre demonstrou entusiasmo com o período da ditadura militar, acredita na ideia conspiratória de que os países desenvolvidos querem anexar a Amazônia e se diz contra políticas que demarquem reservas a comunidades indígenas e quilombolas. “A tese do aquecimento global é cientificamente uma mentira”, disse Santa Rosa, em seminário sobre a Amazônia neste ano.
A saída desta semana é a terceira exoneração de Santa Rosa de cargos de relevo. O militar havia ocupado o posto de secretário de Política, Estratégia e Assuntos Internacionais do Ministério da Defesa no governo Lula, mas foi exonerado em 2007, depois de dar uma entrevista ao Globo em que atacava a demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol. Em 2010, também no governo Lula, foi exonerado do cargo de chefe do Departamento-Geral do Pessoal do Exército depois de uma carta de sua autoria circular na internet expondo críticas à criação da Comissão da Verdade.
Segundo a carta, a comissão seria formada por “fanáticos” e viraria uma “comissão da calúnia”, e os integrantes seriam “os mesmos fanáticos que, no passado recente, adotaram o terrorismo, o sequestro de inocentes e o assalto a bancos como meio de combate ao regime, para alcançar o poder”. O então ministro da Defesa, Nelson Jobim, determinou a exoneração do general. O Exército acatou. Santa Rosa nunca negou ter sido o autor do texto.
“A demissão de Santos Cruz, visto como herói dentro das Forças Armadas, somada à crítica feita por Bolsonaro ao general Luiz Eduardo Rocha Paiva, outra figura de prestígio no Exército, foi entendida como o ponto de ruptura entre o presidente e os militares”
Apesar da forte sinergia de ideias com o presidente, o general acumulou derrotas desde que entrou no governo. Como secretário especial da SAE, acreditava que teria acesso preferencial ao gabinete presidencial, elaboraria planos de ação para áreas estratégicas e teria orçamento para trabalhar. Nenhum dos três anseios se tornou realidade.
A pasta nunca teve orçamento próprio, ficando submetida à Secretaria-Geral da Presidência, hoje comandada por Jorge Oliveira. Santa Rosa tinha especial interesse no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que ficou integralmente com a Casa Civil. Outros objetos do desejo do militar eram o programa aeroespacial brasileiro, a cargo do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, e um plano de ação para transformar o Brasil em exportador de urânio.
O primeiro ainda engatinha. O segundo não saiu do papel. A gota d’água para a insatisfação foi a discordância com o chefe direto, Jorge Oliveira, que exigiu da pasta um relatório de produtividade. Incomodou o general a humilhação do pedido e a procedência: Oliveira, ex-major da Polícia Militar e um dos principais homens de confiança de Bolsonaro, era visto pelo general como alguém “pouco capaz”.
Sua saída fez subir para seis o número de generais expelidos do primeiro escalão do governo. Antes dele, deixaram o Executivo Santos Cruz, da Secretaria de Governo; Franklimberg de Freitas, que comandava a Funai; Juarez Cunha, que presidia os Correios; João Carlos Jesus Corrêa, então presidente do Incra; e Marco Aurélio Vieira, secretário especial de Esporte.
A saída de Santa Rosa e o recrudescimento do discurso de Augusto Heleno colocam em evidência dois movimentos do bolsonarismo. O primeiro é a desmitificação da figura militar por parte do presidente e de seu núcleo duro. Há o ressentimento cada vez mais presente nas alas radicais sobre os generais não terem feito “o suficiente” para “combater a esquerda”.
A demissão de Santos Cruz, visto como herói dentro das Forças Armadas, somada à crítica feita por Bolsonaro ao general Luiz Eduardo Rocha Paiva, outra figura de prestígio no Exército, foi entendida como o ponto de ruptura, em que o presidente expôs a frustração em relação àqueles que costumava enaltecer. Bolsonaro referiu-se a Rocha Paiva como “general melancia”, que significa “verde por fora, vermelho ( comunista ) por dentro”, depois que o militar fez críticas a Olavo de Carvalho. Carlos Bolsonaro foi mais além.
Disse que Rocha Paiva integrava um grupo de militares que “nunca lideraram nem guerra de travesseiros”. Ainda o definiu como um “recruta” que “jamais abriu significativamente a boca quando o PT assaltava o país”. Um dos homens de confiança do ex-comandante-geral do Exército Eduardo Villas Bôas, Rocha Paiva é considerado pela caserna o sucessor do general Meira Mattos, morto em 2007 e visto como um dos maiores formuladores de geopolítica que já passaram pelas Forças Armadas.
“Quando Bolsonaro decidiu demitir o general Santos Cruz, um dia antes comunicou sua decisão ao general Heleno. O ministro do GSI revelou a notícia a algumas pessoas próximas. Mas não ao colega de caserna”
O segundo movimento do bolsonarismo é restringir o acesso ao presidente de aliados que não compartilhem com ele exatamente a mesma visão mundo. Nesse caso, estão excluídos os militares e políticos de visão mais moderada — e daí também advém a versão mais radical de Augusto Heleno, que visa à sobrevivência, na avaliação de assessores do Planalto. A estratégia palaciana mira o exemplo de Donald Trump.
Há a convicção de que, no início do governo do presidente americano, a presença de nomes de mercado ou não alinhados necessariamente à postura política mais enérgica de Trump resultou em um rosário de denúncias anônimas e públicas sobre as entranhas da Casa Branca. Casos como o de Gustavo Bebianno, ex-ministro e hoje crítico do governo Bolsonaro, são o que o núcleo duro presidencial deseja evitar.
Bolsonaro quer isolar aliados que possam vir a sair do governo e dar declarações públicas contra sua gestão. O presidente mira o exemplo de Donald Trump, cujo gabinete foi praticamente substituído ao longo da gestão. John Bolton, ex-conselheiro de Segurança Nacional, foi a baixa mais recente. Foto: Alex Wong / Getty Images
Hoje desbaratada, a ala militar nunca foi homogênea no governo. Por não ser demissível, o general Mourão encampou agenda própria, sem ligação com os demais generais do Palácio. Muitos enxergam nela ímpetos eleitorais. Bento Albuquerque (ministro de Minas e Energia) e Tarcísio Freitas (ministro da Infraestrutura), considerados técnicos, conduzem suas próprias pastas, sem interferência política de Bolsonaro. Os militares palacianos, mais ligados à política, nem sempre agiram no mesmo compasso.
Quando Bolsonaro decidiu demitir o general Santos Cruz, um dia antes comunicou sua decisão ao general Heleno. O ministro do GSI revelou a notícia a algumas pessoas próximas. Mas não ao colega de caserna, que estava despachando normalmente no dia 15 de junho, quando foi chamado ao gabinete de Bolsonaro para ouvir que estava fora do jogo. Em seu lugar entrou outro militar, o general da ativa Luiz Eduardo Ramos, um dos melhores amigos de Bolsonaro, ainda dos tempos em que ambos frequentavam o curso preparatório para a escola de cadetes. Trata-se de amizade à prova de traição, brincam aliados do presidente.
O destino dos generais da reserva mostra que o Palácio do Planalto não produz poder autônomo. E, a despeito do inquilino da vez, quem manda no Palácio sempre é o presidente. Quando João Baptista Figueiredo assumiu a Presidência, em 1979, manteve o general Golbery do Couto e Silva na chefia da Casa Civil. Chamado de “bruxo” ou “feiticeiro” por sua notável capacidade estratégica, Golbery era considerado o homem mais poderoso do regime militar. Falava-se que poderia tutelar Figueiredo. Golbery durou dois anos no cargo.